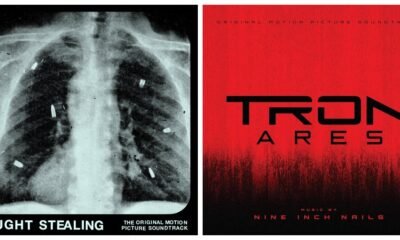Crítica
Ouvimos: Idles, “Tangk”

- Tangk é o quinto disco da banda britânica Idles, formada por Joe Talbot (voz), Mark Bowen (guitarra, programações, backing vocals), Lee Kiernan (guitarra base, backing vocals), Adam Devonshire (baixo, backing vocals) e Jon Beavis (bateria, backing vocals).
- O disco teve três produtores: o próprio guitarrista Mark Bowen, o DJ e produtor Kenny Beats e o produtor-chave do Radiohead, Nigel Godrich. No caso de Nigel, a banda chegou a pensar que não conseguiria compor nada que deixasse o produtor satisfeito, mas encararam. “Aprendemos que nada é tão difícil de alcançar se você trabalhar muito”, contou Bowen.
- O nome Tangk é definido pela banda como “um símbolo de viver no amor”, mas de fato, é uma onomatopeia para o som das guitarras dos Idles.
Nos anos 1990, quando a fartura de bandas novas chegava a desnortear, não havia streaming (desnecessário explicar isso para quem viveu a época, evidente). Se você fosse um reles mortal, conseguia comprar no máximo uns dois, três CDs por mês. Como efeito direto disso, tornava-se viciado(a) em discos de bandas que, em vários casos, nem eram tão geniais. Mas tinham pelo menos cinco faixas muito boas num disco, o que dava vontade até mesmo de ouvir (e perdoar) as faixas menos boas do álbum.
- Apoie a gente e mantenha nosso trabalho (site, podcast e futuros projetos) funcionando diariamente.
O conceito de “disco ruim” ou “disco mais ou menos” era bem diferente numa época em que havia menos acesso a lançamentos. Mas ele me faz lembrar imediatamente de bandas como os Idles: o tipo de banda cujos álbuns nem sempre reúnem músicas tão legais assim, e cujo aproveitamento, na era do CD, seria bem mais evidente. O grupo britânico funciona até mais como ideia do que como música, propriamente: guitarras com timbre entre o brutal e o robótico, ritmo entre a brutalidade hardcore e a frieza do pós-punk, vocais gritalhões, letras variando do protesto à pura molecagem, com boas sacadas. O efeito “já ouvi isso antes” traz boas referências: muita coisa aponta para Wire, Public Image Ltd, Rage Against The Machine, Can e bandas de pós-hardcore.
Tangk, o novo disco, aumenta vários pontos na história dos Idles: a diversificação que já havia nos bons Ultra mono (2020) e Crawler (2021) tem mais espaço, e a banda apresenta seu disco mais bem resolvido em termos de composição e produção. É um dos discos mais melódicos da banda, e o álbum que mais herdou sonoridades da transição entre o glam e o punk.
Não por acaso, o álbum abre com piano, efeitos de guitarra e clima dream pop, em IDEA 01. E encerra com mais efeitos, além de sons tirados num saxofone, em Monolith. Recordações de Roxy Music e dos discos solo de Brian Eno vêm à mente – e, a propósito, Electric warrior, clássico do T Rex, tinha uma música chamada Monolith e encerrava com o sax viajante de Rip off.
Principalmente, Tangk é o disco no qual o clima revoltado dos anteriores ganha certa direção, dada pela new wave, pelo pop francês e pela surf music (no hit Dancer, destaque de single e de clipe) e pela verdadeira dança da guerra que são músicas como Gift horse, POP POP POP, Gratitude e a punk Hall & Oates (com riff chupado dos Kinks). Já Roy vem em clima tribal e tranquilo. O que pode fazer os fãs da antiga estranharem o novo disco é o tom meio Coldplay do dream pop de piano A gospel.
A cara dos Idles, uma banda com muita personalidade, vem modificada em Tangk, que até agora traz a melhor resolução entre expectativa e realidade da história do grupo. Bandas que desafiam a si próprias, muitas vezes desafiam os próprios fãs. Mas já era um desafio que estava surgindo em discos anteriores.
Nota: 8
Gravadora: Partisan
Foto: Reprodução da capa do álbum
Crítica
Ouvimos: Automatic – “Is it now?”

RESENHA: Automatic mistura synthpop gelado e pós-punk dançante em Is it now?: muitas referências, mas identidade própria e letras de recusa ao padrão.
Texto: Ricardo Schott
Nota: 9
Gravadora: Stones Throw Records
Lançamento: 26 de setembro de 2025
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
Formado pelo trio Izzy Glaudini, Halle Saxon e Lola Dompé, o Automatic faz música como se criasse seu próprio som – ou como se usasse referências apenas na base do “eu achei legal, mas mudaria tudo”. Ouvindo Is it now?, é meio claro que bandas como Slits, Japan e Suicide foram ouvidas pelas três em algum momento (nesse papo na comunidade do reddit Indie Heads, Gary Numan foi igualmente citado), mas a colagem foi realizada de um jeito tão particular que dá para imaginar que se usassem IA, iam enlouquecer o sistema.
Vai daí que o synthpop estilingado e pontiagudo delas envolve pós-punk dançante e sustentado pelo baixo (Black box, Lazy, o beat eletrônico rudimental de Don’t wanna dance, o voo controlado de The prize), sons que lembram Ultravox, Talking Heads e o começo sombrio do Human League (PlayBoi, Smog summer, o eletropop alemão de Country song), coisas entre o pós-punk e a psicodelia (a flautinha de mq9, a vibe quase dub de Mercury). O teclado entra para dar uma onda “gelada” em meio ao clima bem pé-no-chão do baixo e da bateria, como se cumprisse a cota de climas mais viajantes no som. De bandas mais novas, dá para perceber algo linkado a Bravery e Arctic Monkeys na faixa-título, marcada também por vocais maquinados e onda meio krautrock.
Na letra de Is it now?, a faixa-título, dá para sentir que o Automatic propõe antes de tudo um manifesto estético – da mesma forma que Re-make / Re-model, do Roxy Music, propunha mudar tudo e enxergar beleza onde o movimento hippie poderia ver caretice ou sujeira. “Corte o cabelo com tesoura de cozinha / novo visual, uma imagem diferente / de segunda mão, não de televisão / shoppings, eles te tornam cruel”, avisam elas. Don’t wanna dance mostra que elas, de fato, não querem se parecer com todo mundo: “as luzes estão me cegando / eu não quero dançar, estou me escondendo / cada momento aqui me lembra que / eu não quero dançar”. Um “não é não” musical, de fino trato e em alto volume.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.
Crítica
Ouvimos: Carlos Dafé, Adrian Younge – “Carlos Dafé JID025”

RESENHA: Carlos Dafé e Adrian Younge unem soul e samba em JID025, disco setentista, orquestral e psicodélico que reencontra passado e presente.
Texto: Ricardo Schott
Nota: 9
Gravadora: Jazz Is Dead
Lançamento: 17 de outubro de 2025
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
Enxergando o soul e o balanço brasileiros como um precioso álbum de figurinhas, o norte-americano Adrian Younge vem fazendo uma série de lances especiais: vem por aí um álbum gravado ao lado de Antonio Carlos & Jocafi, e já saíram discos feitos com Hyldon e Dom Salvador, além de um solo cheio de convidados. E tem também JID025, gravado ao lado de Carlos Dafé, uma das melhores vozes da história da MPB, e um dos compositores mais hábeis no oscilar entre soul e samba.
JID025 parece um disco que Dafé adoraria ter lançado nos anos 1970: Amor enfeitiçado, logo na abertura, tem psicodelia nos acordes de guitarra, mudanças de tom e clima de abertura antiga de novela. E um pouco de paz, com recordações do som de Cassiano, lembra tema de filme policial. Bloco da harmonia tem metais e cordas vibrando junto com a percussão, além de lembranças do lado sambista de Dafé, compositor já gravado por Alcione e Nana Caymmi – embora a canção ganhe clima sombrio no fim. Jazz está morto une jazz, soul e grandiloquência herdada de Isaac Hayes e do Marvin Gave do disco What’s going on (1971). Cítara e harpa marcam o início de Verdadeiro sentimento, balada como as dos discos setentistas de Dafé.
Do começo ao fim, JID025 soa como um flashback turbinado e ácido, que também aponta para o Funkadelic em O baile funk vai rolar, e ganha ar voador em É real… é verdade, no samba orquestral Esse som é verdadeiro e na declamada Como entender o amor. Um reencontro entre passado e presente.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.
Crítica
Ouvimos: Period Bomb – “Cuntageous”

RESENHA: Period Bomb, de Camila Alvarez, retoma o riot grrrl com inclusão e barulho experimental. O EP Cuntageous mistura egg punk e críticas diretas ao machismo.
Texto: Ricardo Schott
Nota: 8
Gravadora: Crass Lips Records
Lançamento: 2 de dezembro de 2025
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
No Brasil ainda não tem muita gente comentando a respeito do Period Bomb – uma pena. Esse projeto estadunidense criado pela musicista Camila Alvarez reavivou o cenário riot grrrl em Los Angeles nos últimos 15 anos, e já lançou discos como Permanently wet (2020) e o EP 24-carat clit (literalmente, “clitóris de 24 quilates”, que saiu em janeiro do ano passado). Um dos trabalhos dela foi ajudar a incluir mulheres trans e mulheres negras que se sentiram excluídas das ondas riot grrl anteriores – como a própria Camila conta nessa entrevista.
- Ouvimos: Ratboys – Singin’ to an empty chair
Cuntageous, o EP mais recente do Period Bomb, não economiza em duas coisas: sons experimentais e dedo na cara de homens babacas. Em alguns momentos lembra Yoko Ono, em outros parece um som ligado também à onda egg punk, de teclados distorcidos e sujos. Cunty boy (“garoto cuzão”) tem vocais afinados, mas prontos para zoar e meter o malho – lado a lado com programação eletrônica e teclados. Parking ticket junta teclados maníacos e voz com vibe fantasmagórica de brincadeira. Birth of labubu zoa uma das manias de 2025 em clima sonoro que mistura Devo, Yoko Ono e Young Marble Giants.
O Period Bomb faz também samba latino experimental em espanhol, Porriquitico, lembrando Mutantes – e lembrando também o quanto o “não é não” é difícil no dia a dia. No final, os 40 segundos da vinheta-título, fazendo questão de explicar que a babaquice masculina é bastante contagiosa. E é.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.