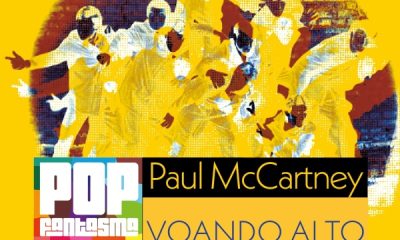Cultura Pop
Discos da discórdia 10: Beatles com “Let it be… naked”

Um tempo atrás me marcaram no Facebook num desses desafios de “melhores discos”. Eu decidi fazer diferente e resolvi escrever, nessa época, sobre discos controversos que, por algum motivo ou outro, eu achava que as pessoas deveriam dar uma segunda chance. Enfim, discos da discórdia (um belo dum trocadalho do carilho, enfim).
Como recentemente aqui no POP FANTASMA eu pus no ar uma série sobre lendas urbanas e umas das diretrizes editoriais (eita!) do site é fazer mais séries sobre assuntos diversos da cultura pop, resolvi transformar os textos numa série com dez álbuns que não são lá grandes campeões de aceitação por parte da crítica, mas que mereciam um pouco mais da sua atenção. O décimo e último disco da série é… Bom, lê aí.
A REVOLTA DE “LET IT BE… NAKED”, DOS BEATLES (2003)

Fazendo certa abstração, Let it be… naked já é sério candidato a primeiro lugar num concurso de nomes bizarros dados a álbuns (“deixa rolar… pelado”??). Lançado em 17 de novembro de 2003 pela Apple, o disco traz o álbum Let it be (1970) teoricamente desprovido de algumas das características que o tornaram um item controverso na discografia dos Beatles. Paul McCartney tinha ficado insatisfeito com a produção original feita por Phil Spector. O chefe do estúdio usou muito de sua técnica de “wall of sound” (vários overdubs e ecos) para tratar as músicas.
Originalmente, Paul tinha pensado num projeto fodástico que envolveria a volta dos Beatles às raízes rock’n roll, além de um provável retorno aos palcos (George Harrison, diga-se, não era favorável nem à ideia do concerto no telhado da Apple). Phil, após várias tentativas da banda de mexer no disco, ficou responsável por formatar o material que originalmente tinha sido gravado pelos Beatles sob o título de Get back (um nome bem melhor, por sinal). Acabou transformando o álbum “apenas” na trilha sonora de um filme mais controverso ainda na história da banda, Let it be. No LP que deixou Paul puto da vida, os fãs ouviam uma versão não-oficialmente acabada de Across the universe, a balada de piano The long and winding road com glacê de orquestra e coral, além de conversas de estúdio e improvisos.
O ORIGINAL JÁ DAVA PROBLEMAS…
Let it be tinha deixado uma impressão ruim em alguns críticos. Aliás, mesmo os fãs ardorosos da banda não escondiam a decepção. Paul McCartney e John Lennon tinham opiniões discordantes quanto ao resultado. O primeiro sempre falava mal do álbum e o segundo defendia Phil Spector – que inclusive produziria discos solo dele. Quanto ao filme resultante das sessões, também era deprimente e, àquela altura, tinha final previsível.
Aliás, George Harrison e Ringo Starr também costumavam defender Phil Spector, dando a entender que, para irritar o ex-colega e autor de Yesterday, valia de tudo. O rolê de Let it be deu pulga na cama de Paul por vários anos, mas ficou de lado. A história só era desenterrada quando aconteciam banalidades como o esquecimento do álbum na discografia americana dos Beatles, após a década de 1970. Let it be chegou a ficar fora de catálogo nos EUA por alguns anos.
MANDA NUDES
Em 2002, tocou o telefone no Abbey Road Studios e era Neil Aspinall, da Apple, encomendando um serviço. O executivo queria um redesenho completo nas mixagens de Let it be, a pedido de Paul.
O ex-beatle tinha encontrado com o diretor de Let it be, Michael Lindsay-Hogg, e o papo tinha sido um provável relançamento do filme, com trilha sonora remixada. A partir do projeto novo, a equipe do estúdio reeditou músicas, substituiu faixas (Don’t let me down foi recriada a partir de duas versões diferentes) e cortou coisas (Dig it e Maggie Mae, dois improvisos que só faziam sentido no contexto de trilha sonora de filme, sambaram fora sem dó nem piedade). The long and winding road ficou (finalmente!) sem as cordas e os corais.
Foi nessa que a versão “naked” de Let it be veio ao mundo, com Paul finalmente resolvendo, após mais de três décadas, um rancor digno de letra de bolero. Houve quem curtisse e houve quem odiasse o que o ex-beatle fez, até porque os fãs estavam devidamente acostumados com o Let it be original. Muita gente viu aquilo como um capricho de Paul e como uma perda de tempo, já que os fãs queriam mesmo era ver o filme em DVD.
De qualquer jeito, quando a discografia da banda foi remasterizada em 2009, veio à tona que Let it be… naked era o item menos procurado do catálogo beatle. A resposta do público, enfim, era bem clara. Hoje, ele pode ser ouvido tanto no YouTube quanto em outras plataformas.
E O FILME?
Bom, o filme Let it be está sendo retrabalhado para lançamento em 2021, sob o comando de Peter Jackson, diretor de O senhor dos anéis (por acaso, como você já até leu no POP FANTASMA, os Beatles quase fizeram uma versão cinematográfica da história de J.R.R. Tolkien). Por causa da pandemia (que atrasou todo o trabalho em um ano), a equipe mudou-se para a Nova Zelândia, menos castigada pelo vírus, e tem à disposição 56 horas de filmagens dos Beatles nunca antes vistas.
O primeiro vídeo do material mostra um clima bem diferente do filme original, com os Beatles parecendo bem mais felizinhos em estúdio – John Lennon em especial. O diretor faz questão de afirmar que não se trata de um trailer, mas de uma pequena amostra do “espírito” do filme. Aparentemente, é o Let it be peladão que os fãs merecem.
Veja todos os Discos da Discórdia aqui.
Tem conteúdo extra desta e de outras matérias do POP FANTASMA em nosso Instagram.
Cultura Pop
Relembrando: Grace Jones, “Nightclubbing” (1981)

Grace Jones é uma personalidade bem difícil de ser colocada numa caixinha. Nascida na Jamaica, filha de um pastor pentecostal, ela se mudou aos 12 anos para Syracuse, em Nova York. Depois, mandou-se para a capital novaiorquina para tentar, mais do que qualquer outra coisa, virar “estrela”. Mas até entrar no estúdio para gravar os primeiros singles, fez testes para peças e filmes. E conseguiu se dar bem como modelo, a ponto de desfilar em Paris.
- Apoie a gente em apoia.se/popfantasma e mantenha nossos projetos e realizações sempre de pé, diários e saudáveis!
- Mais Grace Jones no Pop Fantasma aqui.
Aliás, não havia nada parecido com Grace na época em que ela apareceu, diga-se de passagem. Enfim, uma modelo negra, cujos primeiros hits foram na área da disco music – mas cujo visual andrógino, punk e futurista criava outras conexões, bem mais modernas e underground. Em 1979, dois anos antes de Nightclubbing, a revista Ebony (dedicada ao público afro-americano) colocava a cantora em sua capa, na qual ela era chamada de “a ultrajante Grace Jones”.
Os paradoxos em torno da cantora eram bastante explorados pela revista, que afirmava que Grace era “frequentemente chamada de a Rainha da disco music”. Mas colocava que ela era “um ponto de interrogação seguido por um ponto de exclamação”, por causa de sua aparência andrógina (“será que ela não é um homem?” perguntava o texto) e por causa das escolhas que fazia para sua carreira.
“Sou dos anos 1980. Não quero me comercializar nem baixar o nível do meu trabalho por causa de ninguém. É como eu já fazia como modelo. Não fazia catálogos de jeito nenhum. Fodam-se os catálogos”, afirmava a cantora, em meio a fotos nas quais ela aparecia treinando boxe e pulando corda (o texto original está no Google Books e é bem legal – curta aqui).
E a musicalidade de Nightclubbing, o quinto disco de Grace, vinha até mais nessa linha “ponto de interrogação” do que nos discos anteriores. Aliás, o curioso é que Grace precisou da ajuda de ninguém menos que Chris Blackwell, dono de sua gravadora Island, para chegar até essa fluidez musical. Tom Moulton, um nomão da disco music e criador dos remixes (e dos LPs de som contínuo, que viraram mania em todo o mundo), havia cuidado de seus primeiros discos. Mas dessa vez, Chris, usando como modelo o disco Sinsemilla, da banda de reggae Black Uhuru, assumiu a produção. E cismou que levaria o som de Grace de volta para seu país de origem, a Jamaica.
Blackwell montou uma banda fenomenal que incluía a cozinha maravilhosa de Sly Dunbar (bateria) e Robbie Shakespeare (baixo). Além do tecladista francês Wally Badarou, os guitarristas Mikey Chung e Barry Reynolds e o percussionista Uziah Thompson. A onda de Nightclubbing era new wave sem ser exatamente new wave. Tinha reggae como ferramenta de comunicação, sim. Mas a origem na disco music e nas passarelas parisienses vinham como subtexto.
O repertório era bem pouco autoral (Grace Jones aparece como compositora apenas em três faixas). Mas era “autoral” mesmo assim, já que quase tudo ali eram recriações pessoais. Fosse em Nightclubbing, de Iggy Pop e David Bowie. Ou em Demolition man (uma sobra do The Police, escrita por Sting, enviada para a cantora). Ou em Libertango, de Astor Piazzolla, com letra em inglês e francês.
Já a capa do disco, uma imagem retocada pelo designer e fotógrafo Jean-Paul Goude, era quase uma imagem de clipe, feita de encomenda para deixar felizes os caciques da MTV (que iniciava seus trabalhos naquele ano). E soava como uma feliz mescla de afrofuturismo, David Bowie e Marlene Dietrich (Grace deixava tudo o que cantava com ar de cabaré alemão).
Nightclubbing está nas plataformas digitais com outra capa, e com um disco extra, trazendo remixes e músicas do baú de Grace – incluindo a versão dela para Me! I disconnect from you, de Gary Numan. O álbum faz aniversário no dia 11 de maio e é uma ótima oportunidade para descobri-lo.
Cultura Pop
No nosso podcast, Donna Summer e a era de “I feel love” e “Bad girls”

Tem uma rainha do pop vindo ao Brasil, como todo mundo já sabe. Mas o pop é tão amplo (e tão repleto de súditos) que tem um reinado beeem grande, no qual cabem vários reis e rainhas. E a nossa rainha do pop é aquela que, acompanhada de seu time preferido de parceiros, ajudou a construir a música do futuro em 1977. Foi quando Donna Summer lançou I feel love, uma peça disco que, dizem várias testemunhas, mudou a maneira como as pessoas ouvem música.
Hoje no nosso podcast, o Pop Fantasma Documento, o assunto é aquela época em que Donna Summer, que já era “a rainha do amor” graças a hits como Love to love you baby, foi além do estilo musical e da imagem que a consagraram. Lançou álbuns conceituais, promoveu uma viagem no tempo (no álbum I remember yesterday, de 1977) e promoveu flertes entre disco e new wave (no duplo Bad girls, de 1979).
Século 21 no podcast: Girl Ray e Dani Vallejo.
Estamos no Castbox, no Mixcloud, no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts.
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch. Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
Cultura Pop
Relembrando: Johnny Thunders, “Stations of the cross” (1982/1987)

Até mesmo um sujeito com uma vida bem louca como Johnny Thunders (1952-1991) tinha direito a momentos de (suposta) calmaria. O ex-guitarrista dos New York Dolls não teve uma carreira solo das mais constantes – ressurgiu em 1978 no mercado com So alone, um disco entre o punk e o rock básico, com produção de Steve Lillywhite. Entre vícios, retornos e situações de baixa, chegou a morar na Suécia com esposa e filha.
- Apoie a gente em apoia.se/popfantasma e mantenha nossos projetos e realizações sempre de pé, diários e saudáveis!
Foi depois desse período de (vamos dizer assim) calma que surgiu o álbum duplo Stations of the cross, gravado em 1982 durante duas noites no Mudd Club, em Nova York, mas que só chegou às lojas em 1987 – e inicialmente apenas em K7, como parte da série de lançamentos em fitinhas pelo mitológico selo ROIR. Só depois de um tempo, o disco foi lançado em LP e CD (em vinil, saiu uma edição dupla na França em 1991). O disco na verdade traz mesmo é um show de sua banda punk pós-Dolls, os Heartbreakers – já que tem Thunders (voz e guitarra), Walter Lure (guitarra) e Jerry Nolan (bateria), além de um tal de Talarico no baixo.
Stations of the cross quase foi um filme, ou pelo menos a trilha sonora de um. Lech Kowalski, diretor do documentário punk DOA – A rite of passage, e que depois faria Born to lose: The last rock and roll movie sobre a vida do próprio Thunders, queria ter incluído as músicas como trilha do seu filme Gringo – História de um viciado (1987), do qual Johnny teria participado, fazendo o papel nada ambicioso de Jesus Cristo.
Num textinho publicado justamente no encarte de Stations, Lech relatou o quanto foi complicado trabalhar com Johnny. O diretor foi procurar o músico em sua casa e deparou com um apartamento que vivia com a porta permanentemente aberta, com Johnny em estado permanente de torpor. Ao propor o papel a ele, ouviu de Thunders que o único script do qual precisava era uma Bíblia.
Johnny ainda era viciado em drogas – com as filmagens iniciadas, chegou a sair em busca de cocaína e desapareceu por alguns dias do set. Numa ocasião, recusou-se a tocar uma música duas vezes. Ao gravar ao vivo o material que geraria este Stations of the cross, não quis seguir a ordem estabelecida ao lado de Lech. “De fato, ele nunca nem chegou a gravar as canções que eu precisava para o filme”, reclamou o diretor.
A aventura terminou com Thunders, drogado e semi-nu, sendo atendido por paramédicos. A Lech, só restou lamentar: Gringo saiu, mas o diretor desistiu de incluir as passagens de Thunders e decidiu reservá-las para um filme que nunca foi lançado, Stations of the cross. O disco em questão – produzido pelo próprio cineasta – fica então mais ou menos a trilha sonora de um filme que nunca foi lançado, e como uma trilha alternativa de Gringo.
O som de Stations of the cross é básico, formado por uma mescla de clássicos do próprio Thunders, com regravações como (I’m not your) Stepping stone (Paul Revere & The Raiders), Pipeline (The Chantays), Do you love me (Dave Clark Five). Tem também Chinese rocks, canção dividida entre Ramones e The Heartbreakers, cuja autoria costuma ser reclamada pelas duas bandas, e que surge aqui cantada com uma desafinação considerável. O material é complementado por conversas de bastidores e o que parecem ser trechos falados das filmagens.
Nesse papo aqui, Lech detalha um pouco sobre como foi trabalhar com Johnny, um sujeito que ele teve como fonte por alguns anos, e um personagem pelo qual se interessava, mas de quem pessoalmente ele não gostava de jeito nenhum. Quando decidiu fazer Born to lose, sobre Thunders, havia tido um contato rápido com uma das esposas do músico, e conheceu um dos filhos do artista – o garoto estava preso, na ocasião. O lado escroto e babacão de Thunders fica claro em atitudes, imagens e até em letras de músicas (inclusive nesse Stations of the cross, vale informar). Quando acerta, é um clássico do rock.
-

 Cultura Pop3 anos ago
Cultura Pop3 anos agoLendas urbanas históricas 8: Setealém
-

 Cultura Pop4 anos ago
Cultura Pop4 anos agoLendas urbanas históricas 2: Teletubbies
-

 Notícias6 anos ago
Notícias6 anos agoSaiba como foi a Feira da Foda, em Portugal
-

 Cinema6 anos ago
Cinema6 anos agoWill Reeve: o filho de Christopher Reeve é o super-herói de muita gente
-

 Videos6 anos ago
Videos6 anos agoUm médico tá ensinando como rejuvenescer dez anos
-

 Cultura Pop7 anos ago
Cultura Pop7 anos agoBarra pesada: treze fatos sobre Sid Vicious
-

 Cultura Pop5 anos ago
Cultura Pop5 anos agoAquela vez em que Wagner Montes sofreu um acidente de triciclo e ganhou homenagem
-

 Cultura Pop6 anos ago
Cultura Pop6 anos agoFórum da Ele Ela: afinal aquilo era verdade ou mentira?