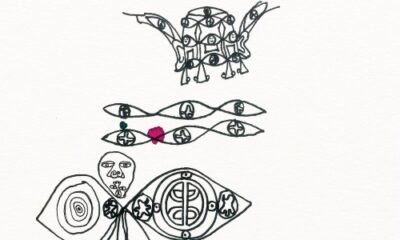Cinema
Festival de Águas Claras: o Woodstock brasileiro ganha documentário

Impressionante que muita gente NÃO lembre disso, mas o Brasil já teve seu Woodstock. O Festival de Águas Claras aconteceu em quatro edições (a primeira em 1975 e as outras três nos anos 1980) numa fazenda em Iacanga, interior de São Paulo. Foi feito na raça por um sujeito chamado Antonio Cecchin Jr., o Leivinha, ao lado de parentes e amigos – e com o apoio do pai, dono dos lotes de terra.
O evento abriu com uma escalação eminentemente roqueira (incluindo várias bandas bastante amadoras, ao lado de grupos como Mutantes e Som Nosso de Cada Dia) e, nos anos 1980, foi redesenhado como festival de MPB, com um ou outro nome do rock – Raul Seixas e Erasmo Carlos passaram por lá. Ganhou transmissão pela Band, alguns patrocínios mais ou menos poderosos e teve seu momento de glória em 1983. Nesse ano, Leivinha conseguiu a proeza de agendar no evento uma apresentação de João Gilberto, após vários momentos de hesitação do baiano. Seria o único show do músico em festivais no Brasil. O fim da história de Águas Claras não foi dos melhores: o festival encerrou de forma dramática em 1984, com uma edição inchada, agendada às pressas no Carnaval e arrasada por chuvas torrenciais.
Essa história foi contada pelo cineasta Thiago Mattar no filme O barato de Iacanga, que está na programação do festival É Tudo Verdade, no Rio e em São Paulo, neste fim de semana. Conversamos com Thiago sobre as histórias do festival, do filme, do sufoco que foi liberar as imagens de João Gilberto (Thiago montou guarda na porta do prédio do baiano, no Leblon) e sobre o, digamos, “apagamento” coletivo que a história de Águas Claras sofreu quando uma porrada de gente passou a desejar que a vida começasse agora e o mundo fosse nosso de vez. Pega aí.

Onde ver o filme
POP FANTASMA: Como você resolveu fazer o filme e contactar o Leivinha?
THIAGO MATTAR: Meu pai e o Leivinha têm um parentesco distante. Meu pai é nascido e criado em Iacanga. Eu conhecia a cidade porque minha bisavó paterna morava lá, eu ia lá para visitá-la. Era a unica referência que eu tinha. Um dia eu estava assistindo ao filme do festival de Woodstock com meu pai – a gente morava em outra cidade do interior de São Paulo – e meu pai disse: “Eu fui no Woodstock brasileiro, ele foi feito na cidade da sua bisavó”. Eu falei: “Haha, cê tá brincando, é piada, né?”. Isso foi há dez anos. Bom, eu descobri a história e achei inacreditável! Existiam poucas fontes de pesquisa na época, com exceção de um blog de uma senhora chamada Sétima Lua, um nome bem hippie, bem maluco…

Raul Seixas no festival (foto: Irmo Celso)
Sim, eu me lembro desse blog. Aí, cara, eu comecei a ver as fotos do álbuns de algumas pessoas, de gente que tinha fotografado de longe o João Gilberto, o Raul Seixas. Eu fiquei…: “Nossa, mas isso realmente aconteceu!”. Comecei uma pesquisa, achei coisas impressas sobre o festival, reportagens da época. Não tinha livro sobre o festival, nada disso. Só bem depois fui fuçar arquivos de televisão. Mas aí meu pai falou: “Olha, eu posso chamar o Leivinha pra você conhecer”. O Leivinha morava em Mato Grosso, e um dia ele fala que precisava ir para São Paulo, e passa na cidade em que a gente morava. E ele me conta a história que está no filme. A primeira história que ele me contou é a que eu consegui contar dez anos depois. Tem um cineasta escocês, o Kevin MacDonald, que diz que a pessoa só conta bem uma história uma vez. E se tinha alguém que tinha contado essa história de um jeito incrível, era o protagonista. Leivinha me falou, isso há dez anos: “Thiago, você tem 20 anos. Eu tinha 22 quando quis fazer o festival e ninguém acreditava em mim”. Ele viu essa paixão em mim e me entregou parte do arquivo dele de bastidores.
Dez anos, na real, é um tempo até compreensível para a realização de um filme desses… E pra você ter uma ideia, eu tenho imagens que eu mesmo gravei há dez anos. Tem coisa que você olha lá e pensa: “Mas de que televisão ele pegou isso?”. Eu gravei há dez anos sem ter ideia do que eu estava fazendo. Peguei uma câmera Mini-DV e saí pegando depoimentos de gente da organização do festival, da família do Leivinha, da Amarilis, amiga dele que ajudou a organizar as primeiras edições. Comecei com amigos me ajudando.
As imagens dos shows são fantásticas, como a do show do Luiz Gonzaga em que ele fala pro público: “Então essa é a sociedade alternativa? Raul Seixas tinha razão!” Meus amigos falavam: “Como a gente não sabe disso? A nossa geração só conhece o Rock In Rio!”. As pessoas foram se apaixonando pela história. Eu achava que o filme ia ser meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo. Quando saí da faculdade eu tinha um filme na gaveta, ainda faltava pesquisa de imagens. Aí encontrei um anjo que foi o Marcelo Machado, que dirigiu Tropicália, e eu sabia que ele tinha ido ao festival. Ele me recebeu na produtora dele e falou: “Thiago, você tem que contar essa história”. E me apresentou ao pessoal da Big Bonsai (produtora do filme). E o Leivinha sempre do lado. Pô, a gente gravou o Conversa com Bial! Imagina, a gente na casa do Rock In Rio fincando a bandeira do Woodstock brasileiro para ninguém ter dúvida (a entrevista vai ao ar em junho)…
O Pena Schmidt tem uma frase que eu acho bem legal. Ele disse numa entrevista que com a chegada dos anos 1980, começou a rolar um “apaga tudo” para o que veio antes, mesmo que fossem coisas do rock dos anos 1970: Rita Lee, Raul Seixas, O Terço… Você acredita que esse apagamento do festival tenha rolado a partir de uma espécie de assepsia na história, em que essa coisa hippie passou a não interessar mais? Acredito. Foram várias razões. A atitude hippie chega no Brasil com um atraso muito grande. O filme Woodstock chega no Brasil em 1970 censurado, com o pessoal pelado cortado. A galera que ia para Londres trazia discos, o rock se popularizou aqui mas começou a se espalhar numa subcultura de São Paulo, Rio. Essa cena roqueira anterior não tinha lugar para tocar. A nova geração do rock brasileiro, de Legião Urbana, Barão Vermelho, já ganha lugar para tocar, já tem uma disseminação nas rádios. O evento começou como festival de rock, mas nos anos 1980 havia isso de “vamos transformar o festival para que não seja essa coisa tão hippie”. Isso em 1981. Águas Claras é o último suspiro dessa atitude hippie no Brasil. E como termina em 1984, havia uma necessidade de esquecer tudo que vinha antes, de um novo Brasil, de uma nova maneira de fazer festivais. Rolou uma atitude coletiva de esquecimento, mesmo. É o que cria distorções como a da galera que acha que não houve ditadura (risos), que nega por mais que você mostre documentos. Com o tempo a gente esquece coisas e memória no Brasil não é nosso forte. Já viu a série Wild wild country?
Não, tá na fila das minhas séries… Os documentaristas, quando fizeram a série, tiveram acesso aos arquivos das TVs locais. E elas guardavam os arquivos em vez de gravar por cima da fita. Encontrei muita dificuldade no Brasil com essa coisa da preservação de material. Meu filme é uma atitude nesse sentido de: “Olha a importância que essa história tem, e a qualidade do material que nós encontramos!”. Pra quem trabalha com isso no Brasil, é um filme dramático! Tivemos que juntar o que era só imagem com coisa que era só áudio, coisa que nem achamos e tá na boca das pessoas…

Família de pelados em 1982 (foto: Irmo Celso)
Em O barato de Iacanga tem cenas fantásticas de bastidores, com Moraes Moreira, A Cor do Som… Você vê que tinha um mercado pop no Brasil – porque aquela MPB era muito pop – mas isso não era bem trabalhado… A Diana Pequeno também estava lá, ela ficou no ostracismo como muita gente daquela geração. Tinha muita coisa acontecendo. Uma coisa que a gente não pode dizer é que era um evento de gravadora. A curadoria era da galera, eles estavam levando quem eles achavam interessante, mesmo depois da reformulação em que o festival virou de MPB. Com o Rock In Rio, já tinha uma marca…
Já tinha a Clair Brothers (que cuidava do som do evento). Sim, uns gringos… Mas isso a gente até falou no Bial: o Rock In Rio aprendeu a fazer festival com Iacanga, o que fazer e o que não fazer. Foi algo de… “vamos fazer um banheiro direitinho?”, “vamos melhorar o transporte e dar estrutura pra isso e aquilo?”, “vamos trazer técnico de fora, porque não tem mesa de som legal aqui?”. E o Rock In Rio já era uma coisa absorvida pela cultura, eles não tinham grandes dificuldades em termos políticos para fazer festival. No caso de Águas Claras, tem dossiê até o último festival! Se você procurar os acervos do Arquivo Nacional, vai ver documento do Dops até 1984! Tinha gente lá dentro fazendo relatório pro Ministério da Justiça, dizendo: “Como isso tá acontecendo? Os artistas aproveitam para contestar o regime vigente no palco!” (risos). Tinha todo esse drama com Águas Claras, de ter uma atitude política mesmo sem querer ter.

Alceu Valença no festival em 1981 (foto: Irmo Celso)
Fiquei com a impressão de que as raves são as grandes herdeiras de Águas Claras, aliás. E não o Rock In Rio. Sim, os herdeiros são esses festivais mais isolados que vêm com a proposta de vender a experiência. Em que você vai lá para acampar, viver o festival, e não para ver o show e ir embora, como acontece com Rock In Rio, Lollapalooza, essa coisa de conglomerados, que é caça-níquel. E Águas Claras nunca foi caça-níquel, até porque quando começou a tentar ser, morreu! A proposta meio que se corrompe ali (em 1984), porque empresários começam a tomar conta do evento. Eu acho que a natureza se vinga do homem ali, a chuva veio para destruir aquela ambição de transformar aquilo num evento comercial pra caralho. É como eu vejo as coisas e como retratei no filme.

João Gilberto no festival (foto: Calil Neto)
E que história foi essa de você ter praticamente acampado na porta do prédio do João Gilberto para tentar conseguir a autorização dele para as imagens dele no filme? Como foi isso e como você finalmente conseguiu? Bom, teve uma época em que eu fiquei totalmente perdido. Pensei: “Esse filme não vai sair sem o João Gilberto, que é o maior momento para a produção do festival”. O maior presente para o público foi o show do João. Numa época, eu fui pro Rio com uma mão na frente e outra atrás, descobri onde o João morava e fiquei igual a um maluco lá, de plantão. Eu ia todo dia lá, teve dois dias em que fui de madrugada porque soube de uma história de que ele saía de madrugada para comprar jornal e conversar com o cara da banca (risos). Passaram dois anos, aí a Bebel Gilberto (filha) consegue a curatela dele. E por meio de amigos e advogados, a gente conseguiu conversar com a Bebel e apresentar o projeto. A reação dela foi: “Que coisa linda, onde é isso?”.
Ela não conhecia? Pelo que eu sei, não. Não sei tudo a respeito, mas ela ficou impressionada com as imagens, pelo que ela respondeu no e-mail. E acabamos conseguindo a liberação. Isso deixou a Big Bonsai tranquila, porque imagina negociar a liberação de não sei quantas músicas, autores, todo mundo que tá no palco… E até algumas pessoas que aparecem peladas no público a gente conseguiu achar! (risos) Imagina você ver um cara de pinto de fora e pensar: “Como eu vou achar esse cara?”
Por curiosidade: alguma vez o Leivinha já te falou o que ele acha do Rock In Rio? Ou o que ele sentiu quando soube do festival? Ele desistiu dessa coisa dos festivais, ele até fala disso no filme. Ele viu que a atitude do público tinha mudado, que o público era outro, que aquilo tava fugindo do controle dele. Antes era uma coisa só feita pela família, por amigos que conseguiam patrocínio meio de última hora, já tinha uma estrutura por trás querendo comer o festival. Em publicações da época, ele diz que queria fazer uma edição só com nomes internacionais. Só que ele queria trazer a galera do progressivo: Jethro Tull, que era o que ele gostava. Ele nunca diz que o Rock In Rio roubou a ideia dele, até porque a proposta do Rock In Rio era transformar o Brasil num palco de shows internacionais. Tem bochichos de que o Manoel Poladian e o Roberto Medina estavam de alguma forma perto na última edição, que teriam visto o que aconteceu, aprenderam um pouco com aquilo. E muita gente ficou impressionada: “Como essa galera tá conseguindo fazer isso sem a gente?” (risos).
Foto principal: Calil Neto (público em 1983)
Cinema
Urgente!: Cinema pop – “Onda nova” de volta, Milton na telona

Por muito tempo, Onda nova (1983), filme dirigido por Ícaro Martins e José Antonio Garcia – e censurado pelo governo militar –, foi jogado no balaio das pornochanchadas e produções de sacanagem.
Fácil entender o motivo: recheado de cenas de sexo e nudez, o longa funciona como uma espécie de Malhação Múltipla Escolha subversivo, acompanhando o dia a dia de uma turma jovem e nada comportada – o Gayvotas Futebol Clube, time de futebol formado só por garotas, e que promovia eventos bem avançadinhos, como o jogo entre mulheres e homens vestidos de mulher. Por acaso, Onda nova foi financiado por uma produtora da Boca do Lixo (meca da pornochanchada paulistana) e acabou atropelado pela nova onda (sem trocadilho) de filmes extremamente explícitos.
O elenco é um espetáculo à parte. Além de Carla Camuratti, Tânia Alves, Vera Zimmermann e Regina Casé, aparecem figuras como Osmar Santos, Casagrande e até Caetano Veloso – que protagoniza uma cena soft porn tão bizarra quanto hilária. Durante anos, o filme sobreviveu em sessões televisivas da madrugada, mas agora ressurge restaurado e remasterizado em 4K, estreando pela primeira vez no circuito comercial brasileiro nesta quinta-feira (27).
Meu conselho? Esqueça tudo o que você já ouviu sobre Onda nova (ou qualquer lembrança de sessões anteriores). Entre de cabeça nessa comédia pop carregada de referências roqueiras da época, um cruzamento entre provocação punk e ressaca hippie. O filme abre com Carla Camuratti e Vera Zimmermann empunhando sprays de tinta para pixar os créditos, mostra Tânia Alves cantando na noite com visual sadomasoquista, segue com momentos dignos de um musical glam – cortesia da cantora Cida Moreyra, que brilha em várias cenas – e trata com surpreendente modernidade temas como maconha, cultura queer, relacionamentos sáficos, mulheres no poder, amores fluidos e, claro, futebol feminino.
Se fosse um disco, Onda nova seria daqueles para ouvir no volume máximo, prestando atenção em cada detalhe e referência. A trilha sonora passeia entre o boogie oitentista e o synthpop, com faixas de Michael Jackson e Rita Lee brotando em alguns momentos. E o que já era provocação nos anos 1980 agora ressurge como registro de uma juventude que chutava o balde sem medo. Vá assistir correndo.
*****
Já Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes, que estreou na última semana, segue outro caminho: o da reverência, mesmo que seja um filme documental. Durante dois anos, Flavia seguiu Milton de perto e produziu um retrato que, mais do que um relato biográfico, é uma celebração. E uma hagiografia, aquela coisa das produções que parecem falar de santos encarnados.
A narração de Fernanda Montenegro dá um tom solene – e, enfim, logo no começo, fica a impressão de um enorme comercial narrado por ela, como os daquele famoso banco que não patrocina o Pop Fantasma. Aos poucos, vemos cenas da última turnê, reações de fãs, amigos contando histórias. Marcio Borges lê matérias do New York Times sobre Milton, para ele. Wagner Tiso chora. Quincy Jones sorri ao falar dele. Mano Brown solta uma pérola: Milton o ensinou a escutar. E Chico Buarque assiste ao famigerado momento do programa Chico & Caetano em que se emociona ao vê-lo cantar O que será – um vídeo que virou meme recentemente.
Isso tudo é bastante emocionante, assim como as cenas em que a letra da canção Morro velho é recitada por Djavan, Criolo e Mano Brown – reforçando a carga revolucionária da música, que usava a imagem das antigas fazendas mineiras para falar de racismo e capitalismo. Mas, no fim, o que fica de Milton Bituca Nascimento é a certeza de que Milton precisava ser menos mitificado e mais contado em detalhes. Vale ver, e a música dele é mito por si só, mas a sensação é a de que faltou algo.
Por acaso, recentemente, Luiz Melodia – No coração do Brasil, de Alessandra Dorgan, investiu fundo em imagens raras do cantor, em que a história é contada através da música, sem nenhum detalhe do tipo “quem produziu o disco tal”. Mas o homem Luiz Melodia está ali, exposto em entrevistas, músicas, escolhas pessoais e atitudes no palco e fora dele. Quem não viu, veja correndo – caso ainda esteja em cartaz.
- Apoie a gente e mantenha nosso trabalho (site, podcast e futuros projetos) funcionando diariamente.
Cinema
Urgente!: Filme “Máquina do tempo” leva a música de Bowie e Dylan para a Segunda Guerra

Descobertas de antigos rolos de filme, assim como cartas nunca enviadas e jamais lidas, costumam render bons filmes e livros — ou, pelo menos, são um ótimo ponto de partida. É essa premissa que guia Máquina do tempo (Lola, no título original), estreia do irlandês Andrew Legge na direção. A ficção científica, ambientada em 1941, acompanha as irmãs órfãs Martha (Stefanie Martini) e Thomasina (Emma Appleton), e chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (13), dois anos após sua realização.
As duas criam uma máquina do tempo — a Lola do título original, batizada em homenagem à mãe — capaz de interceptar imagens do futuro. O material que elas conseguem captar é todo registrado em 16mm por uma câmera Bolex, dando origem aos tais rolos de filme.
E, bom, rolo mesmo (no sentido mais problemático da palavra) começa quando o exército britânico, em plena Segunda Guerra Mundial, descobre a invenção e passa a usá-la contra as tropas alemãs. A princípio, a estratégia funciona, mas logo começa a sair do controle. As manipulações temporais geram consequências inesperadas, enquanto as personalidades das irmãs vão se revelando e causando conflitos.
Com apenas 80 minutos de duração e filmado em 16 mm (com lentes originais dos anos 1930!), Máquina do tempo pode soar confuso em algumas passagens. Não apenas pelas idas e vindas temporais, mas também pelo visual em preto e branco, valorizando sombras e vozes que quase se tornam personagens da história. Em alguns momentos, é um filme que exige atenção.
O longa também tem apelo para quem gosta de cruzar cultura pop com história. Martha e Thomasina ficam fascinadas ao ver David Bowie cantando Space oddity (o clipe brota na máquina delas), tornam-se fãs de Bob Dylan, adiantam a subcultura mod em alguns anos (visualmente, inclusive) e coadjuvam um arranjo de big band para o futuro hit You really got me, dos Kinks, que elas também conseguem “ouvir” na máquina. Um detalhe curioso: a própria Emma Appleton operou a câmera em cenas em que sua personagem Thomasina se filma (“para deixar as linhas dos olhos perfeitas”, segundo revelou o diretor ao site Hotpress).
Ainda que a cultura pop esteja presente, Máquina do tempo é, acima de tudo, um exercício de futurologia convincente, explorando uma futura escalada do fascismo na Inglaterra — que, no filme, chega até mesmo à música, com a criação de um popstar fascista.
A ideia faz sentido e nem é muito distante do que aconteceu de verdade: punks e pré-punks usavam suásticas para chocar os outros, Adolf Hitler quase figurou na capa de Sgt. Pepper’s, dos Beatles, Mick Jagger não se importou de ser fotografado pela “cineasta de Hitler” Leni Riefenstahl, artistas como Lou Reed e Iggy Pop registraram observações racistas em suas letras, e o próprio Bowie teve um flerte pra lá de mal explicado com a estética nazista. Mas o que rola em Máquina do tempo é bem na linha do “se vocês soubessem o que vai acontecer, ficariam enojados”. Pode se preparar.
Cinema
Ouvimos: Lady Gaga, “Harlequin”

- Harlequin é um disco de “pop vintage”, voltado para peças musicais antigas ligadas ao jazz, lançado por Lady Gaga. É um disco que serve como complemento ao filme Coringa: Loucura a dois, no qual ela interpreta a personagem Harley Quinn.
- Para a cantora, fazer o disco foi um sinal de que ela não havia terminado seu relacionamento com a personagem. “Quando terminamos o filme, eu não tinha terminado com ela. Porque eu não terminei com ela, eu fiz Harlequin”, disse. Por acaso, é o primeiro disco ligado ao jazz feito por ela sem a presença do cantor Tony Bennett (1926-2023), mas ela afirmou que o sentiu próximo durante toda a gravação.
Lady Gaga é o nome recente da música pop que conseguiu mais pontos na prova para “artista completo” (aquela coisa do dança, canta, compõe, sapateia, atua etc). E ainda fez isso mostrando para todo mundo que realmente sabe cantar, já que sua concepção de jazz, voltada para a magia das big bands, rendeu discos com Tony Bennett, vários shows, uma temporada em Las Vegas. Nos últimos tempos, ainda que Chromatica, seu último disco pop (2020) tenha rendido hits, quem não é 100% seguidor de Gaga tem tido até mais encontros com esse lado “adulto” da cantora.
A Gaga de Harlequin é a Stefani Joanne Germanotta (nome verdadeiro dela, você deve saber) que estudou piano e atuação na adolescência. E a cantora preparada para agradar ouvintes de jazz interessados em grandes canções, e que dispensam misturas com outros estilos. Uma turminha bem específica e, vá lá, potencialmente mais velha que a turma que é fã de hits como Poker face, ou das saladas rítmicas e sonoras que o jazz tem se tornado nos últimos anos.
O disco funciona como um complemento a ao filme Coringa: Loucura a dois da mesma forma que I’m breathless, álbum de Madonna de 1990, complementava o filme Dick Tracy. Mas é incrível que com sua aventura jazzística, Gaga soe com mais cara de “tá vendo? Mais um território conquistado!” do que acontecia no caso de Madonna.
- Apoie a gente e mantenha nosso trabalho (site, podcast e futuros projetos) funcionando diariamente.
O repertório de Harlequin, mesmo extremamente bem cantado, soa mais como um souvenir do filme do que como um álbum original de Gaga, já que boa parte do repertório é de covers, e não necessariamente de músicas pouco conhecidas: Smile, Happy, World on a string, (They long to be) Close to you e If my friends could see me now já foram mais do que regravadas ao longo de vários anos e estão lá.
De inéditas, tem Folie à deux e Happy mistake, que inacreditavelmente soam como covers diante do restante. Vale dizer que Gaga e seu arranjador Michael Polansky deram uma de Carlos Imperial e ganharam créditos de co-autores pelo retrabalho em quatro das treze faixas – até mesmo no tradicional When the saints go marching in.
Michael Cragg, no periódico The Guardian, foi bem mais maldoso com o álbum do que ele merece, dizendo que “há um cheiro forte de banda de big band do The X Factor que é difícil mudar”. Mas é por aí. Tá longe de ser um disco ruim, mas ao mesmo tempo é mais uma brincadeirinha feita por uma cantora profissional do que um caminho a ser seguido.
Nota: 7
Gravadora: Interscope.
-

 Cultura Pop5 anos ago
Cultura Pop5 anos agoLendas urbanas históricas 8: Setealém
-

 Cultura Pop5 anos ago
Cultura Pop5 anos agoLendas urbanas históricas 2: Teletubbies
-

 Notícias7 anos ago
Notícias7 anos agoSaiba como foi a Feira da Foda, em Portugal
-

 Cinema8 anos ago
Cinema8 anos agoWill Reeve: o filho de Christopher Reeve é o super-herói de muita gente
-

 Videos7 anos ago
Videos7 anos agoUm médico tá ensinando como rejuvenescer dez anos
-

 Cultura Pop8 anos ago
Cultura Pop8 anos agoBarra pesada: treze fatos sobre Sid Vicious
-

 Cultura Pop6 anos ago
Cultura Pop6 anos agoAquela vez em que Wagner Montes sofreu um acidente de triciclo e ganhou homenagem
-

 Cultura Pop7 anos ago
Cultura Pop7 anos agoFórum da Ele Ela: afinal aquilo era verdade ou mentira?