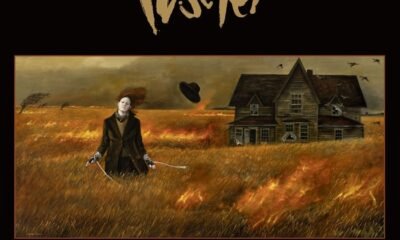Cultura Pop
E rolou aniversário de Hunky Dory, de David Bowie

Quarto disco de David Bowie, Hunky dory (lançado em 17 de dezembro de 1971) foi, para muita gente, o primeiro álbum do cantor. Space oddity, compactinho de 1969, fez sucesso, mas o próprio Bowie admitia que era cobrado por um prosseguimento da canção, “como se eu fosse um especialista em viagens espaciais”. David Bowie (1969), o disco dessa música, passou quase em branco. The man who sold the world, o terceiro álbum (1971), ficou marcado por uma viagem fracassada aos Estados Unidos e só serviu para exibir a pequenez do artista, dentro de um universo que ganhava uma nova sacudida a cada minuto.
O livro David Bowie e os anos 1970: O homem que vendeu o mundo, de Peter Doggett, diz que lá por 1971, Bowie era um artista sem público e sem gravadora. Mas finalmente tinha aprendido o mais importante: precisava ser a encarnação do seu público (ou seja: alguém com os mesmos medos e desejos deles). Também aprendera que deveria investir cada vez mais numa persona misteriosa e andrógina, mais à vontade no papel do que na foto de capa de The man who sold the world (onde Bowie, com semblante sério, usava uma túnica que chamou de “vestido de homem”).
O empresário de Bowie, o espertalhão Tony Defries, tinha livrado o cantor de suas obrigações com a gravadora Mercury. Antes disso, o cantor fizera algumas demos com uma banda chamada Runk, que virou seu primeiro “projeto” maluco, o Arnold Corns (sobre o qual você já leu no POP FANTASMA). As gravações já adiantavam material que estaria em Hunky dory e The rise and fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars (1972). A própria Mercury, muito tardiamente, chegou a mudar de ideia sobre a saída de Bowie e quis esticar sua permanência no selo. Defries, que via Bowie simultaneamente como o novo Elvis Presley, o novo Beatles e o novo Marlon Brando, foi inflexível: disse que seu cliente não gravaria mais nada para eles, e marcou reuniões com outras grandes gravadoras.
Hunky dory, o disco que pôs Bowie definitivamente na história do rock, começou a ser feito como um projeto independente, entre ensaios na mansão em que o cantor morava, Haddon Hall, e o início das gravações, no Trident Studios, em Londres. Tony Visconti, que produzira os dois discos anteriores, estava afastado após desentendimentos com o cantor. Ken Scott produziu o disco. Acompanhando Bowie, o grupo que depois viraria os Spiders From Mars: Mick Woodmansey (bateria), Trevor Bolder (baixo) e o inigualável Mick Ronson (guitarra e arranjos de cordas), além de Rick Wakeman (piano).
Bowie entrou para a RCA com um contrato um tanto humilde, mas o que importava é que ele foi a Nova York assinar, e lá encontrou Andy Warhol (personagem de uma canção do disco novo), Lou Reed e Iggy Pop. E Hunky dory surgia como um disco preparado para fazer a crônica daqueles novos tempos, para cantar a passagem de bastão do hippismo para outra coisa (o glam rock, o pré-punk), para sonorizar os descaminhos da “caixa baixa” da turma que anteriormente circulava em torno de Warhol.
O som do álbum, curiosamente, parecia mais apropriado a uma leitura de peça ou a um café-teatro. Eram vários temas baseados no piano (morando numa mansão, Bowie finalmente havia conseguido espaço em casa para ter um), que lembravam mais um show dado para poucas pessoas do que um concerto para milhões. E o novo repertório surgia impactado pela viagem aos EUA, em 1971.
Changes, a faixa de abertura, falava sobre mudanças físicas, existenciais e psicológicas – o verso “vire-se e encare o estranho” era a cara daqueles tempos e anunciava Bowie. Oh, you pretty things podia ser encarada como o hino de uma nova geração, ou a quebra total de padrões (“todos os estranhos vieram aqui hoje, e parece que vieram para ficar”). Assim começava o disco.
Já Life on Mars?, principal música do álbum, era um tema de fim de sonho: a letra narrava o dia a dia de uma menina com penteado punk (um “cabelo de rato”, antes de “punk” indicar um movimento) que sofria com a incompreensão dos pais e com o afastamento dos amigos. E que assistia a um filme ruim que misturava a decadência dos EUA, da Inglaterra, do rock, das fantasias infantis (curiosamente, o cineasta maldito Kenneth Anger também enxergava decadência em Mickey Mouse, assim como Bowie na canção). A melodia era inspirada pela regravação que Frank Sinatra fizera de My way – e Bowie fez questão de incluir um abusado “inspirado por Frankie” na contracapa, forçando uma intimidade que obviamente ele não tinha com o cantor.
Andy Warhol, a homenagem ao esteta pop, deixou Warhol se sentindo mais sacaneado do que homenageado. O artista declarou ter se ofendido com o verso “Warhol parece uma aberração” e disse detestar observações a respeito de sua aparência (bom, anos depois Bowie declarou que o amigo “parecia um morto-vivo”). A folk Song for Bob Dylan era uma curiosidade: numa época em que Dylan ganhava fama de “traidor do movimento” por não comentar a respeito da Guerra do Vietnã, e rolava até uma bizarra “Frente pela Libertação de Dylan” criada por fãs descontentes, Bowie tinha esperanças de que o cantor de Blowin’ in the wind guiasse a nova geração. Nada demais, mas era o criador do Major Tom aprendendo que a experiência com personagens da vida real dava mais repercussão. Ainda mais numa época em que guias eram mais do que necessários.
O hard rock Queen bitch sempre foi tido como uma homenagem a Lou Reed – embora a letra não pareça descrever o ex-cantor do Velvet Underground. Na prática, era uma celebração do estilo de vida glam. Por fim, cada lado do disco era fechado por canções sérias e repletas de simbolismos. Quicksand foi definida por Doggett como “uma canção para o próprio Bowie, e para seu inconsciente”, misturando várias referências e personagens que ele tentava assumir – e que, mais do que tudo, representavam o caos da época, a legião de desajustados para quem Hunky dory tinha sido feito, o fim das certezas dos anos 1960.
Bewlay brothers, por sua vez, era um mistério. Era definida por Bowie como “uma canção muito pessoal” e geralmente interpretada como um último recado sobre sua relação com o irmão Terry, que sofria de esquizofrenia. O final, com voz distorcida e melodia quase infantil, era um dos raros momentos de tensão no disco. Por acaso, Bowie voltaria às cantigas aterrorizantes no final de Ashes to ashes, seu testamento dos anos 1970 (na hora do verso “é melhor você não se meter com o Major Tom”).
Dificilmente alguém que ouviu Hunky dory conseguiu captar a mensagem logo na primeira audição. O mais provável é que a pessoa tenha relido as letras (ou traduzido as letras, se for o caso), e tenha escutado duas, três vezes. Até que ficasse claro que o grande personagem do disco somos nós mesmos, nossa insegurança, nosso assombro diante das mudanças, nosso pedido de socorro diante da complexidade das coisas. E nosso entendimento de que o mundo, como era antes, mudou. E que é preciso colocar outra coisa no lugar. Mas que outra coisa seria essa?
Cultura Pop
George Harrison em 2001: “O que é Eminem?”

RESUMO: Em 2001, George Harrison participou de chats no Yahoo e MSN para divulgar All Things Must Pass; com humor, respondeu fãs poucos meses antes de morrer – e desdenhou Eminem (rs)
Texto: Ricardo Schott – Foto: Reprodução YouTube
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
“Que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de fazer suas orações esta noite. Sejam boas almas. Muito amor! George!”. Essa recomendação foi feita por ninguém menos que o beatle George Harrison no dia 15 de fevereiro de 2001 – há 25 anos e alguns dias, portanto – ao participar de dois emocionantes chats (pelo Yahoo e pelo MSN).
O tal bate-papo, além de hoje em dia ser importante pelos motivos mais tristes (George morreria naquele mesmo ano, em 29 de novembro), foi uma raridade causada pelo relançamento remasterizado de seu álbum triplo All things must pass (1970), em janeiro de 2001. George estava cuidando pessoalmente da remasterização de todo seu catálogo e o disco, com capa colorida e fotos reimaginadas, além de um kit de imprensa eletrônico (novidade na época), era o carro-chefe de toda a história. O lançamento de um site do cantor, o allthingsmustpass.com, também era a parada do momento (hoje o endereço aponta para o georgeharrison.com).
Os dois bate-papos tiveram momentos, digamos assim, inesquecíveis. No do Yahoo, George fez questão de dizer que era sua primeira vez num computador: “Sou praticamente analfabeto 🙂 “, escreveu, com emoji e tudo. Ainda assim, um fã meio distraído quis saber se ele surfava muito na internet. “Não, eu nunca surfo. Não tenho a senha”, disse o paciente beatle. Um fã mais brincalhão quis saber das influências dos Rutles, banda-paródia dos Beatles que teve apoio do próprio Harrison, no som dele (“tirei todas as minhas influências deles!”) e outro perguntou sobre a indicação de Bob Dylan ao Oscar (sua Things have changed fazia parte da trilha de Garotos incríveis, de Curtis Hanson). “Acho que ele deveria ganhar TODOS os Oscars, todos os Tonys, todos os Grammys”, exultou.
A conta do Instagram @diariobeatle deu uma resumida no chat do Yahoo e lembrou que George contou sobre a origem dos gnomos da capa de All things must pass, além de associá-los a um certo quarteto de Liverpool. “Originalmente, quando tiramos a foto eu tinha esses gnomos bávaros antigos, que eu pensei em colocar ali tipo… John, Paul, George e Ringo”, disse. “Gnomos são muito populares na Europa. E esses gnomos foram feitos por volta de 1860”.
Ver essa foto no Instagram
A ironia estava em alta: George tambem disse que se começasse um movimento como o Live Aid ajudaria… Bob Geldof (!)., o criador do evento. Perguntado sobre se Paul McCartney ainda o irritava, contemporizou: “Não examine um amigo com uma lupa microscópica: você conhece seus defeitos. Então deixe suas fraquezas passarem. Provérbio vitoriano antigo”, disse. “Tenho certeza de que há coisas suficientes em mim que o irritam, mas acho que já crescemos o suficiente para perceber que nós dois somos muito fofos!”. Um / uma fã perguntou sobre o que ele achava da nominação de Eminem para o Grammy. “O que é Eminem?”, perguntou. “É uma marca de chocolates ou algo assim?”.
Bom, no papo do MSN um fã abusou da ingenuidade e perguntou se o próprio George era o webmaster de si próprio. “Eu não sou técnico. Mas conversei com o pessoal da Radical Media. Eles vieram à minha casa e instalaram os computadores. Os técnicos fizeram tudo e eu fiquei pensando em ideias. Eu não tinha noção do que era um site e ainda não entendo o conceito. Eu queria ver pessoas pequenas se cutucando com gravetos, tipo no Monty Python”, disse.
Pra ler tudo e matar as saudades do beatle (cuja saída de cena também faz 25 anos em 2026), só ir aqui.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.
Cultura Pop
No nosso podcast, os erros e acertos dos Foo Fighters

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No terceiro e último episódio, o papo é o começo dos Foo Fighters, e o pedaço de história que vai de Foo Fighters (1995, o primeiro disco) até There’s nothing left to lose (o terceirão, de 1999), esticando um pouco até a chegada de Dave Grohl e seus cometas no ano 2000.
Uma história e tanto: você vai conferir a metamorfose de Grohl – de baterista do Nirvana a rockstar e líder de banda -, o entra e sai de integrantes, os grandes acertos e as monumentais cagadas cometidas por uma das maiores bandas da história do rock. Bora conferir mais essa?
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: encarte do álbum Foo Fighters). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
(a parte do FF no ano 2000 foi feita com base na pesquisa feita pelo jornalista Renan Guerra, e publicada originalmente por ele neste link)
Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.
Mais Pop Fantasma Documento aqui.
Cultura Pop
No nosso podcast, Alanis Morissette da pré-história a “Jagged little pill”

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No segundo e penúltimo episódio desse ano, o papo é um dos maiores sucessos dos anos 1990. Sucesso, aliás, é pouco: há uns 30 anos, pra onde quer que você fosse, jamais escaparia de Alanis Morissette e do seu extremamente popular terceiro disco, Jagged little pill (1995).
Peraí, “terceiro” disco? Sim, porque Jagged era só o segundo ato da carreira de Alanis Morissette. E ainda havia uma pré-história dela, em seu país de origem, o Canadá – em que ela fazia um som beeeem diferente do que a consagrou. Bora conferir essa história?
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: Capa de Jagged little pill). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.
Mais Pop Fantasma Documento aqui.