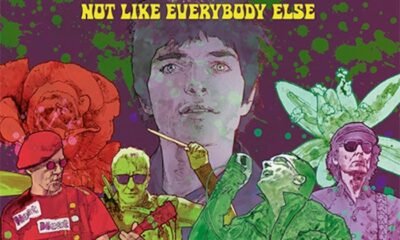Cultura Pop
Várias coisas que você já sabia sobre Atom Heart Mother, do Pink Floyd

Você pode tentar bastante, mas dificilmente vai enjoar de olhar para a capa de Atom heart mother, quinto disco do Pink Floyd (1970). Mais até do que a música em si, o visual do disco tem um apelo especial, que torna o álbum mais orquestral do grupo interessante como conceito, como projeto, como “coisa”. Junto com as cinco músicas (uma delas ocupando todo o lado A), acaba contando uma história e dando a entender que faz parte de um “espírito do tempo” hoje inalcançável, mas presumível.

O quinto disco de Roger Waters (voz, baixo), David Gilmour (guitarra, voz), Rick Wright (teclados, voz) e Nick Mason (bateria) abriu um precedente bem diferente na obra do Pink Floyd e deixou seguidores e detratores. Entre eles, os próprios integrantes da banda, que volta e meia eram vistos detonando o próprio disco.
UM INSTANTE, MAESTRO
Seja como for, há detalhes que humanizam Atom rapidamente e o tiram do status de “obra de vanguarda”. Primeiramente, na época, o Pink Floyd era visto como um dos mais pretensamente orquestrais nomes do rock progressivo, e lançar um disco acompanhado por cordas, metais e corais era questão de tempo. Segundo, a abertura de uma clareira erudita no rock era um “passo 2” no estilo naquele período, após as inovações de bandas como Beatles, Moody Blues e Beach Boys (e Mutantes).
Em busca de inovação, o Pink Floyd estava seguindo uma tendência, que seria levada adiante por vários outros grandes nomes do rock na época. Entre eles, Jimi Hendrix, que dizia a jornalistas, pouco antes de morrer (por sinal semanas antes de Atom heart mother ser distribuído às lojas), que seu sonho era montar uma “grande orquestra” – e falava bem de autores clássicos.
Atom heart mother completou 50 anos há poucas semanas, em silêncio. Pouca referência foi feita ao disco por aí e ele parece não ser o tipo de disco que os grandes fãs do Floyd preferem relembrar. Aliás, nem mesmo os ex-integrantes vivos parecem curtir muito recordar o disco. Mas a gente relembra e segue aí nosso relatório sobre ele. Ouça lendo e leia ouvindo. E se for o caso, dê uma segunda chance.
ANTES
QUANDO Atom heart mother começava a ser feito, o Pink Floyd ainda era uma banda insegura, fragmentada e assombrada pelo fantasma do ex-líder e principal compositor, Syd Barrett, a quem tinham demitido por causa de seu comportamento errático no palco e no estúdio (causado por excesso de LSD e esquizofrenia).
O GRUPO pensava alto: bolava espetáculos musicais e experimentais, e queria fazer discos em que abusavam dos efeitos de estúdio – mas ainda assim chamar a atenção das massas, vender discos e fazer dinheiro. Era um desejo que fazia sentido numa época em que uma das bandas mais bem sucedidas do rock, o The Who, fazia sucesso com uma ópera-rock, Tommy, e em que Hair virava franquia de sucesso nos palcos. Músicas enooormes como A saucerful of secrets, faixa-título do segundo disco (1968) foram pensadas para prender a atenção do público por mais de dez minutos e serem um enorme sucesso de palco. Da mesma forma, algumas experimentações do Pink Floyd viraram quase “obras em progresso”, sendo modificadas e ganhando outros nomes à medida em que eram executadas e ensaiadas.
AQUELA MERDA
ATÉ O TERCEIRO DISCO, Ummagumma (1969), o Pink Floyd era chamado pelas costas na EMI de “aquela nossa merda estranha”. O álbum trazia um lado ao vivo e outro de estúdio (com peças doidonas escritas cada uma por um membro da banda) e chegou à posição 5 no Reino Unido. E, vale dizer, fez a alegria de um tipo especial de audiófilo que comprava revistas de eletrônica (eram famosíssimas na época, na base do “monte você mesmo seu receiver”) e estava interessadíssimo em testar o som de seu novo equipamento. O grupo nadou de braçada nisso.
ENQUANTO ISSO, o Pink Floyd começava a se mostrar uma excelente opção para fazer trilhas de filmes, o que ajudava a equilibrar o caixa de uma banda cujo conceito de show era bem megalomaníaco. Fez a de More, estreia na direção do iraniano Barbet Schroeder (1969), além de vários filminhos pequenos. E foi contratado por Michelangelo Antonioni para fazer a trilha de Zabriskie Point, em 1969. Passaram alguns dias na Itália, comeram a pizza que o diabo amassou por causa do diretor (para ele, nunca nada estava bom) e voltaram desapontados porque só três músicas foram aproveitadas na trilha.
ALIÁS E A PROPÓSITO, o restante do material de Zabriskie Point viraria um banco de ideias da banda, com trechos sendo aproveitados em Atom heart mother e Dark side of the moon (falamos disso aqui).
O NOME DELES ERA TRABALHO
O PINK FLOYD nem sequer esperou o clima meio bizarro das gravações com Antonioni passar, e já foi logo se meter no estúdio da EMI para ensaiar o novo material que haviam composto em Roma – e que até o momento não havia sido aproveitado. Na época, a banda – graças ao trabalho que vinham desenvolvendo com trilhas sonoras e criações de paisagens musicais – já tinha a ideia de fazer uma peça grande, que talvez ocupasse todo o lado de um disco. Para se manterem na ativa, faziam show em qualquer palco que os recebesse.
UMA DAS músicas que a banda estava mexendo e remexendo era uma progressão de acordes criada pelo guitarrista David Gilmour, que ele chamara de Theme for an imaginary western. Isso porque Roger Waters, ao escutar os riffs, pensou que “lembrava um tema de um faroeste ruim qualquer, com as silhuetas dos cavalos correndo ao pôr do sol”.
ESSE RIFF de guitarra foi justamente o que deu origem a Atom heart mother, a música. Isso porque a banda, quando ouviu os acordes de Gilmour, já imaginou aquilo tudo coberto com cordas, metais, corais e tudo o que coubesse lá. “Ela soava como um filme bem pesado”, recordou o baixista e letrista.
AINDA TINHA O SYD BARRETT
UM DETALHE INTERESSANTE é que, enquanto o Pink Floyd continuava concebendo Atom heart mother, Syd Barrett ainda pairava sobre o dia a dia da banda. David Gilmour e Roger Waters estavam entre os que passaram pelo estúdio durante a elaboração do primeiro disco solo de Barrett, The madcap laughs, lançado em 3 de janeiro de 1970. Os dois chegaram a produzir coisas no álbum. Peter Jenner, ex-empresário do Pink Floyd, migrou para a carreira solo de Barrett e cuidou igualmente do disco do guitarrista.
DE CERTA FORMA, o disco de Barrett trouxe muito da “ética de trabalho” do Pink Floyd naquele período. A banda não costumava descartar músicas e reaproveitava muita coisa. Com exceção de uma música gravada em 1968, o material foi todo gravado entre abril e julho de 1969, em meio a instabilidades de Barrett. Aliás, havia quem chamasse nas internas o disco de “interminável”. Gilmour e Waters eram partidários da ideia de usar o disco para fotografar o momento do cantor e não jogar nada fora. “Quisemos explicar o que estava acontecendo”, conta Gilmour.
CONFUSÃO
POUCO TEMPO DEPOIS que The madcap foi lançado, Barrett já entrava em estúdio de novo para, mais do que gravar, manter-se ativo, com Gilmour no comando. Barrett, o segundo disco, saiu em 14 de novembro daquele ano, com Gilmour e Rick Wright na produção. As bases eram primeiramente gravadas com Syd cantando e tocando violão, e os outros músicos eram acrescentados depois. Isso porque o cantor não conseguia nem se adequar às bases, nem tocar com outros músicos.
O LIVRO Nos bastidores do Pink Floyd, de Mark Blake, explica que ainda havia certa confusão na cabeça do ex-integrante da banda sobre se ele ainda estava ou não no grupo. Pelo menos uma vez naquele período, ele apareceu na casa de Wright achando que ainda estava no Pink Floyd e que a banda teria um show para fazer naquela mesma noite.
MUSICÃO, HEIN?
O PINK FLOYD queria tudo naquela época, menos fazer músicas curtas, grudentas e radiofônicas. O idioma progressivo, que vigorava no pós-psicodelia, pedia tudo, menos canções pequenas. Tanto que no mesmo ano em que Atom heart mother chegava às lojas, o Soft Machine, banda de jazz-rock e progressivo de Canterbury (a 122 quilômetros de Cambridge), lançava um disco duplo, Third, com uma música de cada lado. Não chegou a ser um enorme sucesso, mas o Soft Machine manteve-se na grandalhona CBS até 1973 (lançando discos com nomes numerados, sempre). Em 1975, foi justamente para o selo que lançava o Pink Floyd, Harvest, e lançou o jazzístico Bundles.
ALIÁS E A PROPÓSITO, o Pink Floyd nunca amou loucamente singles. Em 1968 lançaram seu último single na Inglaterra por uma década, Point me at the sky. Mas ele fracassou, não entrou em nenhuma parada e foi imediatamente esquecido. “Decidimos que, se o público não queria comprar nossos singles, não os faríamos mais”, falou o baterista Nick Mason. Chegaram a sair singles nos EUA – entre eles um compactinho americano com Free four, do disco Obscured by clouds (1971) – mas foi tudo exceção.
“AUXI…” O QUE?
EM JUNHO DE 1969, animado pelo sucesso inesperado da trilha de More, o Pink Floyd já estava começando a investir em espetáculos enormes, iniciando com The final lunacy, no Royal Albert Hall de Londres. A banda vinha tocando uma suíte chamada The massed gadgets of the Auximines, dividida em dois segmentos (The man e The journey). Essa suíte só existe em LP pirata e não virou disco. Mas trechos dela aparecem espalhados em álbuns como More, Umagumma e até nas inéditas da coletânea Relics.
O SHOW NOVO utilizava o coordenador Azimuth para espalhar tanto o som da banda ao vivo quanto os vários efeitos sonoros gravados que o grupo havia levado para o palco. O produtor Norman Smith. que cuidara dos discos do grupo até então, entrava no palco para reger orquestra e coral durante a execução de A saucerful of secrets. Um integrante da banda apareceu vestido de gorila no palco, canhões foram disparados e, num determinado momento, integrantes da equipe da banda apareciam no palco tomando chá enquanto um rádio ligado transmitia sons para o público.
ERA DESSA FORMA que o Pink Floyd queria passar sua mensagem na época. E esse tipo de evento está na raiz não apenas de Atom heart mother, mas também de praticamente tudo o que a banda faria depois. Por acaso, o nome “massed gadgets” já vinha sendo tentado pelo PF há um tempinho. No comecinho, a música quilométrica A saucerful of secrets era apresentada em shows como Massed gadgets of Hercules.
VELHAS TENDÊNCIAS
SERGIO DIAS, guitarrista dos Mutantes, costuma dizer que o mundo no comecinho dos anos 1970 estava ficando progressivo. Era verdade: mesmo as bandas tidas hoje como protopunks faziam músicas enormes (caso de We will fall, dos Stooges, e Starship, do MC5). Em 1969, o Deep Purple causou uivos em roqueiros com o show/disco Concerto for group and orchestra – abrindo espaço para experimentos parecidos feitos por bandas como Procol Harum e alguns anos depois, por Rick Wakeman. Parecia que, em busca de uma pretensa seriedade, uma arte jovem (o rock) estava ficando cada vez mais vetusta.
O ROCK PROGRESSIVO NASCEU DOS BEATLES? Muita gente já se perguntou isso, então vamos lá: a maioria dos pesquisadores considera Days of future passed, segundo disco da banda britânica Moody Blues (1967), como o primeiro disco do prog. Mas tem quem diga que um certo disco, com um nome enorme, lançado por um quarteto de Liverpool naquele mesmo ano, foi o marco zero do progressivo.
O JORNALISTA Roberto Muggiati, no livro Rock: os anos da utopia e os anos da incerteza, deixa claro que não aposta nisso aí, não. “Os Beatles tinham muito humor (Sgt Pepper’s é uma festa) e o humor não se encontra entre as características básicas do rock progressivo”, escreveu. Mas de qualquer jeito, o Pink Floyd não era uma das bandas mais pretensamente sérias do mundo: fazia trilhas para filmes doidões, batizou um disco com uma gíria para sexo (Ummagumma) e falava de desencontros amorosos em algumas letras, como aconteceu até mesmo em Atom heart mother.
EU ERA POP
ALIÁS E A PROPÓSITO, e só para deixar claro para quem não tinha sequer nascido em 1970/1971: bandas como Yes, Pink Floyd, Genesis, Emerson, Lake & Palmer estavam longe de serem grupos marginais ou desaplaudidos. Quem vendia pouco disco eram bandas como Stooges e New York Dolls, ou David Bowie até 1972. Os grupos progressivos eram a bola da vez: vendiam milhares de cópias, davam shows para manadas de fãs e, passando longe da romantização bom-gostista daquele seu amigo prog-cabeça, eram formados por músicos que eram verdadeiros showmen no palco.
SHOWS do Pink Floyd ou do Genesis envolviam vários aparatos de palco, vídeos, fantasias, fogos de artifício, efeitos especiais e um número considerável de trocas de roupas em meio a uma música e outra. Os fãs esperavam por detalhes como os efeitos de luz do Pink Floyd, as máscaras de Peter Gabriel (Genesis) ou o casacão de lantejoulas de Rick Wakeman (já em carreira solo) quase como os fãs de Beyoncé esperam por um bate-cabelo ou por hits como Single ladies.
O ROCK PROGRESSIVO só foi entrar em declínio de verdade lá por meados dos anos 1970. Mas pelamor, a tese de que “o punk acabou com o rock progressivo” é sem sentido. Primeiro porque os dois estilos se fundiram em vários momentos (e já falamos sobre isso). Segundo porque o som prog teve um rebote sério lá pelo começo dos anos 1980, com o sucesso do Rush, a descoberta do Yes pela geração MTV (em 1983), o sucesso do próprio Pink Floyd com a ópera-rock The wall, a chegada de superbandas como Asia. Mas lá por 1971 já sentia o cheiro do esgotamento graças ao pré-punk, ao glam rock e ao começo do heavy metal. O desafio era manter o público interessado sem perder a integridade.
DOIDEIRA EM VINIL
O MERCADO, de certa forma, estava aberto para que bandas de rock fizessem experimentações malucas de estúdio. Ou mesmo que despejassem nas lojas coisas meio aleatórias, feitas até em casa, como foi o caso do par de discos Unfinished music, lançado pelo casal John Lennon e Yoko Ono. Ou mesmo a estreia de John Lennon com Plastic Ono Band (1970), que deixou Waters boquiaberto pela maneira como o ex-beatle se expôs nas letras, e que – já indo na contramão da exuberância do Pink Floyd – apontava para uma sonoridade minimalista e quase pré-punk.
NÃO QUE esse tipo de lançamento vendesse muitos discos ou rendesse muita grana para os envolvidos (ou então, vá lá, o Velvet Underground seria a banda mais pop do fim da década de 1960), mas rendia mídia e, dependendo do caso, certo escândalo. E no caso específico de John e Yoko, que gravaram o primeiro Unfinished music num dia de muito sexo, drogas e sons estranhos, MUITO escândalo.
ORQUESTRA
O FATO DE o Pink Floyd ter usado cordas e metais em The final lunacy acabou acendendo uma luzinha na cabeça de Roger Waters, que por aqueles tempos já andava super interessado em fazer “o que ninguém fazia” pelo Pink Floyd. Ou seja: dar um direcionamento, prestar atenção em tendências e dar um jeito de inserir a musicalidade inovadora e experimental da banda em algo que poderia ser entendido como zeitgeist. Que, como vimos, pedia certa elaboração no estúdio, já que bandas como Moody Blues e Deep Purple vinham tocando com orquestras em estúdio e ao vivo.
RON GEESIN. A entrada desse músico e poeta na história do Pink Floyd aconteceu em 1968, por intermédio de Nick Mason. Nascido na Escócia em 1943, ele havia tocado piano numa banda de jazz chamada The Original Downtown Syncopators e gravou, em 1967, um disco experimental chamado A raise of eyebrows. Com a mulher, virou parceiro de noitadas de Nick Mason e Rick Wright, além de suas respectivas. Encontro vai, encontro vem, acabaria sendo ele o responsável por acabar com o clima de “acho que tá faltando alguma coisa” que tomara conta da banda durante a elaboração da música Atom heart mother. E pôs cordas e metais ali.
O MÚSICO passou também a jogar golfe com Roger Waters, que era um jogador bem pior que ele, mas era lutador e competitivo. Mal conhecia a obra do Pink Floyd, mas logo percebeu que Waters era a força criativa da banda. “Nick Mason era um camarada muito legal e um bom amigo, mas não tinha aquele faro maníaco para fazer algo maluco e torná-lo uma peça de arte”, afirmou.
PSICODELIA FLATULENTA
A PRIMEIRA VEZ em que Waters e Geesin fizeram algo juntos foi em Music from The body, trilha sonora de um documentário britânico de 1970 que mostrava o corpo humano por dentro. Era narrado pelos atores Frank Finlay e Vanessa Redgrave a partir da pesquisa de biólogos. Geesin entrou nessa por indicação de seu amigo, o DJ John Peel. Ao ouvir do produtor do filme Tony Garrett que deveria compor canções incidentais, Geesin convidou Waters para dividir as tarefas.
ALIÁS E A PROPÓSITO, apesar das finalidades sérias, Music from The Body é um verdadeiro novelty record, aberto com a animadinha Our song, um jazzinho maluco ritmado por palmas, pelo bater de mãos no rosto, por peidos e arrotos. Saiu no Brasil em vinil.
A GENTE JÁ VOLTA
NO VERÃO britânico de 1970, o Pink Floyd deixou a Inglaterra rumo a uma turnê pelos EUA. Geesin se trancou de cuecas em seu estúdio calorento, num porão em Notting Hill, e foi fazer os arranjos de cordas e metais. Sua única fonte foi uma fita mal mixada e cheia de erros de execução que lhe foi entregue pela banda.
TUDO CAGADO. O grupo não usou metrônomo – o que garantiu disparos de execução no meio da música – e ainda por cima a EMI estava sob sérias restrições orçamentárias e racionando o uso de fitas, o que fez com que o Pink Floyd não pudesse regravar nada. Mas Geesin terminou o serviço a tempo da banda voltar dos EUA e a banda já encontrou datas agendadas para gravar em Abbey Road. Dessa vez sob sua própria produção, já que Norman Smith assinou apenas como “produtor executivo” e já havia avisado ao Pink Floyd que eles poderiam se virar sozinhos.
NO ESTÚDIO
PORRADARIA. Geesin era arranjador, mas não era maestro. Estava acostumado a lidar com músicos como os da New Philarmonic Orchestra, com os quais gravava comerciais de TV. Mas o relacionamento com os músicos da EMI Pops Orchestra – que gravaram a orquestração de Atom heart mother – foi péssimo do começo ao fim.
POR CAUSA de um erro na partitura entregue por ele, instrumentistas se recusaram a tocar determinadas passagens. Alguns responderam ao arranjador com grosserias como “você é quem devia saber!”, “o que você quer aqui?”. Quando perdeu a paciência e partiu para cima de um trompetista malcriado, Geesin foi tirado do comando da orquestra e substituído pelo experiente John Alldis.
VETERANO
ALLDIS era bem mais velho e experiente que o resto da turma. Havia nascido em 1929, tinha passado pela Universidade de Cambridge, e durante os anos 1960, dirigira a London Symphony Orchestra e o London Philharmonic Choir. Àquela altura, já estava em estúdio com o Pink Floyd gravando os corais da faixa, mas acabou pegando todo o serviço. Geesin curtiu o trabalho de Alldis, mas contou que se ele tivesse regido os músicos, o som da faixa ficaria mais jazzístico e percussivo.
ALIÁS E A PROPÓSITO, Geesin costumava dizer que era bastante significativo do interesse do Pink Floyd por música orquestral “o fato de eu ter levado todos da banda, exceto Roger, para assistir Parsifal, de Wagner, no Covent Garden, e eles terem caído no sono”.
‘ATOM HEART MOTHER’, UM NOME
QUATRO meses antes do disco sair, o Pink Floyd já vinha apresentando a música-título em shows, só que com o nome de The amazing pudding. Foi sob essa nomenclatura que a banda passeou pelos 24 minutos da música no bagunçado e desorganizado Bath Festival of Blues and Progressive Music, em Shepton Mallet, contando também com o John Alldis Choir e a Philip Jones Brass Ensemble no palco. Em julho, toparam tocar num festival grátis no Hyde Park, produzido por Jeff Griffin, da BBC, mas quase mataram o produtor de susto (e raiva, possivelmente), quando pediram um naipe de doze metais e um coral com vinte cantores, e um lugar pra ensaiar com essa multidão.
NESSA ÉPOCA, a banda já desistira de The amazing pudding e a música não tinha nome. Durante uma gravação para o DJ John Peel, Waters abriu o jornal Evening Standard e leu a história de uma mulher que tinha recebido um marca-passo movido a energia atômica. Não tinha nada a ver com a música, mas a banda curtiu a ideia e a faixa acabou batizada assim. Testemunhas dizem que o DJ John Peel insistiu que Waters lesse o jornal em busca de um título, mas Geesin diz que foi ele.
NO HYDE PARK, a música foi tocada na íntegra, com cordas e metais. Ron Geesin, na plateia, odiou o show e achou o som uma bosta. Atom prosseguiu, naquele começo, dando dores de cabeça para a banda, que tinha problemas para viajar com o equipamento, teve um caminhão roubado e ainda por cima precisava lidar com o entra e sai de músicos eruditos contratados.
CONCERTOS PARA A JUVENTUDE
O DISCO. Atom heart mother tinha duração extravagante para um LP em 1970. São 52 minutos, com uma faixa de quase 24 minutos no lado A, e quatro músicas no B – incluindo um minissuíte de doze minutos. Assim como em Ummagumma, as do lado B eram praticamente estudos ou esboços musicais, mas com tratamento mais radio friendly que as do LP duplo. Aliás, muitas pessoas acharam o lado B encheção de linguiça.
LADO A. Atom heart mother, a música, tinha seis movimentos. Father’s shout, diz Waters, “inspira a imagem de fumar um cigarro em amplas planícies ao som de cavalos relinchando”. Breasty milk une órgão, guitarra e coral. Funky dung é meio funky, mas arrastada e lisérgica, com coral. Mother fore põe um pouco mais de peso na historia, e é aquela parte em que o coral começa a falar expressões meio estranhas. A aterrorizante Mind your throats please adianta o Pink Floyd faria em Dark side of the moon e tem até uma colisão de carros. Remergence parece rebobinar a fita (opa, tem até partes rodadas ao contrário). Fim.
LADO B. A primeira é If, balada acústica, delicada e campestre de Waters, que (iniciando uma mania típica do Floyd) fala em loucura e isolamento. A terceira é a balada hipponga Fat old sun, de Gilmour. No fim, Alan’s psychedelic breakfast é outra suíte, de treze minutos, protagonizada pelo roadie da banda Alan Styles. Alan, mais velho que os integrantes da banda e com propensões a artista, durou na equipe do Floyd até 1973. Na música, ele é ouvido preparando o café com cereais, torradas, ovos e bacon, comendo, mastigando, acendendo um fósforo (cujo ruído é repetido várias vezes) e soltando frases. A música abre com o barulho de uma goteira na pia de Nick Mason.
GRANA
ALIÁS E A PROPÓSITO, a peça original de Atom heart mother era uma única música. Steve O’Rourke, novo empresário do Pink Floyd, avisou Geesin que devido ao contrato com a gravadora nos EUA, a faixa teria que ser dividia em seis – daí a criação dos nomes como Mind your throats please, Funky dung, etc. “Ou então eles só receberiam royalties de publicação por uma música”, lembrou O’Rourke a Geesin.
COMO a capa do disco já estava pronta e todo mundo sabia que seria a foto de uma vaca, nomes como Mother’s breast surgiram disso. Father’s shout foi uma sugestão de Geesin em homenagem a um de seus heróis, o pianista de jazz americano Earl ‘Fatha’ Hines.
PERA, E SUMMER ’68? ESQUECEU?
DE JEITO NENHUM. Segunda música do lado B, o maior hit do disco, apesar de nunca ter sido editado em single. E é tido como uma das músicas mais cantaroláveis do Pink Floyd. E, ah, é uma canção sobre amor livre e a vida na estrada. Rick Wright, tecladista do grupo e autor da faixa, narrou seu encontro com uma groupie numa festa e o relacionamento sexual fugaz que teve com ela (“dissemos até logo antes de dizermos alô”, diz a letra).
E AS NAMORADINHAS? Todo mundo no Pink Floyd já mantinha relacionamentos firmes em 1970, mas o assédio das fãs rondava a banda, digamos. O baterista Nick Mason cala sobre o assunto em seu livro de memórias Inside out (2004), mas o perigote Roger Waters diz que a mulherada corria atrás do grupo.
SAIU
DE MODO GERAL, Atom heart mother poderia estar tranquilamente na nossa seção de Discos da discórdia, já que causa ranço em vários fãs, na mesma medida em que deixa muitos admiradores felizes. A maior discussão de mesa de bar sobre o disco era “isso é rock progressivo ou música clássica?”. Ou “isso é rock ou música orquestral?”. Ou, em outro patamar, “isso é bom mesmo ou é uma cafonice dos diabos?”.
SEJA COMO FOR, o disco saiu em 2 de outubro no Reino Unido e 10 de outubro nos EUA e se deu bem nos dois países (1º e 55 lugares, respectivamente). As lojas de discos ficavam repletas de pôsteres do disco (como os abaixo) ou mesmo da capa gatefold aberta. Virou mania em tudo quanto era lugar do mundo.

A EMI, sentindo que aquela banda era perfeita para todo mundo entrar de cabeça na nova mania de aparelhagens de som (aquele conjunto de LP, k7, rádio e até fita rolo) bancou uma edição quadrafônica de Atom heart mother, feita para ser escutada em aparelhos de quatro caixas de som. Até mesmo no Brasil o álbum ganhou uma edição quadrafônica. Aliás, outros discos do PF saíram por aqui no mesmo formato, bem como muita coisa da EMI, como o queridíssimo LP Western, do maestro francês Franck Pourcel, com clássicos do bangue-bangue como os temas de Bonanza e de O bom, o mau e o feio.
A CRÍTICA
AS REAÇÕES ao disco foram da adoração explícita à raiva desgarrada. Assim que o disco saiu, Alec Dubro, da Rolling Stone, disse que “se o Pink Floyd está procurando por algumas novas dimensões, eles não as encontraram aqui”. A Billboard limitou-se a dizer que “sons eletrônicos convivem com instrumentos de rock” no disco, e que “o Pink Floyd continua nos seus caminhos inventivos”.
JÁ Steve Wise, crítico do jornal underground Great Speckled Bird pisou no disco, classificando-o como “peça wagneriana de cafonice clássica” e dizendo que “as partes mais freaky ficaram arruinadas… e encapsuladas no lixo clássico”. Mas a Beat Instrumental chamou Atom heart mother de um “disco totalmente fantástico, que eleva o Floyd a outro patamar”.
UMA VACA AO REDOR DO MUNDO
A CAPA de Atom heart mother não foi tão criativamente modificada ao redor do planeta, ao contrário do que aconteceu com vários designs famosos. Não houve casos conhecidos em que a pobre vaca foi substituída por outro animal, ou em que alguma modificação foi feita especificamente na foto – mas em alguns países, a gravadora achou por bem colocar o nome da banda, do disco, ou o selo da EMI ou da Harvest na capa. Isso aconteceu em lugares como o México, por exemplo. Na Índia, o nome do disco e da banda foram acrescentados na mesma grafia em que aparece na capa dupla – na contra capa, colocaram uma foto interna. E nada da capa dupla. A mesma coisa foi feita na edição australiana.
NO BRASIL, o disco só saiu em 1972. O Globo publicou um artigo sobre a banda (veja só) numa seção dedicada à fotografia e a aparelhagens de som, Som maior, em 10 de maio de 1972. Dedicou algumas linhas a afirmar que o PF era um dos “conjuntos do underground” e soltou um histórico da banda, relembrando a saída de Syd, a entrada de Gilmour e as mudanças de sonoridade.
O SELO HARVEST só apareceu na edição brasileira de Atom heart mother lá pelo final dos anos 1970. O álbum foi lançado aqui inicialmente em versões estéreo e mono, com o selo “da estrela” da antiga Odeon. Depois foi reeditado com o selo “dourado” da gravadora, até mesmo em edição quadrafônica. O álbum foi reeditado diversas vezes em LP, K7 e CD.
BOA NOITE!
LEMBRA DO PINK FLOYD NA ABERTURA DO ‘JORNAL NACIONAL’? Ou pelo menos já ouviu falar porque seu pai, mãe, avô ou avó te falaram? Pode esquecer porque isso nunca aconteceu. Em 1972, Summer 68 tocou na verdade numa propaganda do Banco Nacional, que era patrocinador do telejornal, e surgia (aí sim) antes do programa começar. Mas o tema de abertura continuava sendo The fuzz, de Frank De Vol.
VEM PRO PINK FLOYD VOCÊ TAMBÉM
A INTENÇÃO do Banco Nacional, como você deve ter visto acima, era vender produtos como cartões e seguros. Tanto os cartões como as cadernetas de poupança eram itens queridos na época – estas, então, eram menina dos olhos do governo militar, para manter a inflação estabilizada.
AS CADERNETAS eram tão populares que bancos como Delfim e Patrimônio investiam até em chaveiros (no formato de cofrinho) e demais brindes para crianças, além de propagandas em revistas em quadrinhos no estilo “peça para o papai”. Em Você tem tempo?, tema da série infantil Linguinha (protagonizada por Chico Anysio), o cantor Betinho cantava “grana pra quê/se eu tenho o CDC?” (nome popular do cartão de crédito).
COM O TEMPO, várias cadernetas revelaram-se verdadeiras roubadas. Muitas empresas faliram, ou foram concentradas. Nos anos 1970, o Brasil pagou a conta do “milagre” e a inflação voltou a galopar. Até porque a mania do cartão de crédito gerou sonhos da casa própria, do carro do ano e… também gerou gente encalacrada financeiramente (e devendo pagamento de boletos), o que enterrava a lorota de “estabilização”.
A HISTÓRIA DO SEGURO no Brasil remonta ao ano de 1855, quando foi fundada no Rio a Companhia de Seguros Tranqüilidade, primeira a vender seguros de vida. Mas em 1970, após uma série de incêndios (um deles, supostamente criminoso, na TV Paulista), o presidente militar Emílio Garrastazu Médici indicou o advogadoJosé Lopes de Oliveira para a presidência do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). A nova gestão acarretou mudanças, como a entrada de seguros de aviões e navios, entre outras coisas. Mas enfim, muita gente deve ter comprado cartão de crédito, apólice de seguros e outros produtos bancários ao som de um dos maiores clássicos do amor livre e da psicodelia.
MINHA VAQUINHA QUERIDA
AQUELA VACA indefesa e de olhar expressivo da capa de Atom heart mother tem nome (Lulubelle III) e foi clicada pela equipe da empresa de design Hipgnosis num campo em Hertfordshire. Storm Thorgerson, criador da capa, considerava o conteúdo do disco “animal” e estava brincando quando sugeriu uma vaca na capa. Mas a banda levou a sério.
A BANDA fincou pé num detalhe: o nome do disco e do Pink Floyd só apareceria nas internas da capa dupla. Storm disse certa vez que adoraria ter uma gravação da reunião em que mostrou a capa para um diretor da EMI. “Ele ficou absolutamente apoplético quando viu a capa”, afirmou.
VALE DIZER que a vaca do disco do Pink Floyd não foi o único bovídeo fêmea a provocar ruminações no mundo pop. Em 1975, o soulman baiano Hyldon foi à fazenda de um amigo tirar fotos para a capa do disco Na rua, na chuva, na fazenda. Dias depois recebeu um telefonema do amigo reclamando: “Pô, minha vaca foi parar na capa do disco do Gil!” (Refazenda, de Gilberto Gil, lançado no mesmo ano e na mesma gravadora, Philips). Já a capa de Get a grip (1993), do Aerosmith, causou polêmica por trazer uma vaca com piercing nos mamilos. Grupos de proteção aos animais chiaram, mas o fato é que o brinco era fruto de computação gráfica.
PARÓDIAS. O clima campestre da capa de Atom heart mother, invadiu a do álbum Chill out, do KLF (1990), repleto de samples de artistas como Van Halen, Fleetwood Mac e Elvis Presley. E nos anos 1970 saiu um pirata do Pink Floyd com uma vaca na capa e o nome de The dark side of the moo (!). Já falamos disso.
E DEPOIS?
O PINK FLOYD subiu de nível financeiro com Atom heart mother. A banda conseguia finalmente conseguiam lucrar com royalties, em vez de ter a grana enviada direto para o fundo que sustentava os shows do grupo. David Gilmour resumiu a história dizendo que “pela primeira vez ganhávamos mais do que nossos roadies”.
SAIU UM FERIDO DAS GRAVAÇÕES DO DISCO: Ron Geesin, que ficou bem puto de Atom não ter sido lançado como “Pink Floyd e Ron Geesin” (muito embora ele tenha recebido crédito de co-autoria na faixa). O músico foi se afastando da banda e especificamente de Waters quando percebeu que o amigo estava começando a abusar do autoritarismo e a “morder todo mundo” que lidava com ele. Ron diz que o clima dentro da banda não era nada hippie ou tranquilo: o Pink Floyd era pressionado pela gravadora e pelo empresário, e rolava muito muito bullying interno entre os músicos.
E NO PALCO? A música Atom heart mother virou uma peça querida dos shows do Pink Floyd até pelo menos 1972, mas as encrencas com o entra e sai de músicos clássicos e a dinheirama perdida com a contratação de músicos exclusivos (!) – e possivelmente a certeza de que um canção de 25 minutos comia o espaço de umas cinco músicas – fizeram o PF passar a apresentar uma versão reduzida da faixa, só com guitarra, baixo, bateria e teclado. A versão redux ficou no repertório de palco da banda até 1972.
FIM. Em 22 de maio de 1972 no Olympisch Stadion, Amsterdã, Holanda, o Pink Floyd tocou Atom heart mother pela última vez. Para a tristeza de uns e alegria de outros, diga-se.
E DEPOIS???
BOM, no começo de 1971 o Pink Floyd, fiel a seu conceito de experimentações de estúdio, começou a trabalhar nuns troços que deram em Meddle (1971), o sexto disco. A ideia de Dark side of the moon, que só sairia em 1973, já estava rondando as mentes de uns e outros na banda. Mas antes disso, ainda sairia Obscured by clouds (1972), trilha de La vallée, outro filme de Barbet Schroeder. Pela primeira vez na vida, o Pink Floyd fazia um disco que podia ser definido apenas como “rock”, com progressivismos dosados, baladas radiofônicas e sons mais pesados. E daí pra frente, é outra história (e aguarde bônus tracks desse texto no nosso Instagram @popfantasma_)
JÁ QUE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI…
ENTÃO PEGA AÍ uma das paródias mais legais de Atom heart mother. A vaca do Pink Floyd foi sampleada na arte do disco da banda mineira The Junkie Jesus Freud Project, A cow called Floyd, lançado em 1993 pela Cogumelo.
Com informações de Loudersound e dos livros Nos bastidores do Pink Floyd, de Mark Blake, e Reinventing Pink Floyd: From Syd Barrett to the Dark Side of the Moon, de Bill Kopp.
VEJA TAMBÉM NO POP FANTASMA:
– Demos o mesmo tratamento a Physical graffiti (Led Zeppelin), ao primeiro disco do Black Sabbath, a End of the century (Ramones), ao rooftop concert, dos Beatles, a London calling (Clash), a Substance (New Order), a Fun house (Stooges), a New York (Lou Reed), aos primeiros shows de David Bowie no Brasil, a Electric ladyland (The Jimi Hendrix Experience), a Pleased to meet me (Replacements), a Dirty mind (Prince), a Paranoid (Black Sabbath), a Tango in the night (Fleetwood Mac) e a Mellon Collie and the infinite sadness (Smashing Pumpkins). E a The man who sold the world (David Bowie). E a L.A. woman (Doors). E Boy (U2). E The seeds of love (Tears For Fears).
– Além disso, demos uma mentidinha e oferecemos “coisas que você não sabe” ao falar de Rocket to Russia (Ramones) e Trompe le monde (Pixies).
– Mais Tears For Fears no POP FANTASMA aqui.
Cultura Pop
George Harrison em 2001: “O que é Eminem?”

RESUMO: Em 2001, George Harrison participou de chats no Yahoo e MSN para divulgar All Things Must Pass; com humor, respondeu fãs poucos meses antes de morrer – e desdenhou Eminem (rs)
Texto: Ricardo Schott – Foto: Reprodução YouTube
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
“Que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de fazer suas orações esta noite. Sejam boas almas. Muito amor! George!”. Essa recomendação foi feita por ninguém menos que o beatle George Harrison no dia 15 de fevereiro de 2001 – há 25 anos e alguns dias, portanto – ao participar de dois emocionantes chats (pelo Yahoo e pelo MSN).
O tal bate-papo, além de hoje em dia ser importante pelos motivos mais tristes (George morreria naquele mesmo ano, em 29 de novembro), foi uma raridade causada pelo relançamento remasterizado de seu álbum triplo All things must pass (1970), em janeiro de 2001. George estava cuidando pessoalmente da remasterização de todo seu catálogo e o disco, com capa colorida e fotos reimaginadas, além de um kit de imprensa eletrônico (novidade na época), era o carro-chefe de toda a história. O lançamento de um site do cantor, o allthingsmustpass.com, também era a parada do momento (hoje o endereço aponta para o georgeharrison.com).
Os dois bate-papos tiveram momentos, digamos assim, inesquecíveis. No do Yahoo, George fez questão de dizer que era sua primeira vez num computador: “Sou praticamente analfabeto 🙂 “, escreveu, com emoji e tudo. Ainda assim, um fã meio distraído quis saber se ele surfava muito na internet. “Não, eu nunca surfo. Não tenho a senha”, disse o paciente beatle. Um fã mais brincalhão quis saber das influências dos Rutles, banda-paródia dos Beatles que teve apoio do próprio Harrison, no som dele (“tirei todas as minhas influências deles!”) e outro perguntou sobre a indicação de Bob Dylan ao Oscar (sua Things have changed fazia parte da trilha de Garotos incríveis, de Curtis Hanson). “Acho que ele deveria ganhar TODOS os Oscars, todos os Tonys, todos os Grammys”, exultou.
A conta do Instagram @diariobeatle deu uma resumida no chat do Yahoo e lembrou que George contou sobre a origem dos gnomos da capa de All things must pass, além de associá-los a um certo quarteto de Liverpool. “Originalmente, quando tiramos a foto eu tinha esses gnomos bávaros antigos, que eu pensei em colocar ali tipo… John, Paul, George e Ringo”, disse. “Gnomos são muito populares na Europa. E esses gnomos foram feitos por volta de 1860”.
Ver essa foto no Instagram
A ironia estava em alta: George tambem disse que se começasse um movimento como o Live Aid ajudaria… Bob Geldof (!)., o criador do evento. Perguntado sobre se Paul McCartney ainda o irritava, contemporizou: “Não examine um amigo com uma lupa microscópica: você conhece seus defeitos. Então deixe suas fraquezas passarem. Provérbio vitoriano antigo”, disse. “Tenho certeza de que há coisas suficientes em mim que o irritam, mas acho que já crescemos o suficiente para perceber que nós dois somos muito fofos!”. Um / uma fã perguntou sobre o que ele achava da nominação de Eminem para o Grammy. “O que é Eminem?”, perguntou. “É uma marca de chocolates ou algo assim?”.
Bom, no papo do MSN um fã abusou da ingenuidade e perguntou se o próprio George era o webmaster de si próprio. “Eu não sou técnico. Mas conversei com o pessoal da Radical Media. Eles vieram à minha casa e instalaram os computadores. Os técnicos fizeram tudo e eu fiquei pensando em ideias. Eu não tinha noção do que era um site e ainda não entendo o conceito. Eu queria ver pessoas pequenas se cutucando com gravetos, tipo no Monty Python”, disse.
Pra ler tudo e matar as saudades do beatle (cuja saída de cena também faz 25 anos em 2026), só ir aqui.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.
Cultura Pop
No nosso podcast, os erros e acertos dos Foo Fighters

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No terceiro e último episódio, o papo é o começo dos Foo Fighters, e o pedaço de história que vai de Foo Fighters (1995, o primeiro disco) até There’s nothing left to lose (o terceirão, de 1999), esticando um pouco até a chegada de Dave Grohl e seus cometas no ano 2000.
Uma história e tanto: você vai conferir a metamorfose de Grohl – de baterista do Nirvana a rockstar e líder de banda -, o entra e sai de integrantes, os grandes acertos e as monumentais cagadas cometidas por uma das maiores bandas da história do rock. Bora conferir mais essa?
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: encarte do álbum Foo Fighters). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
(a parte do FF no ano 2000 foi feita com base na pesquisa feita pelo jornalista Renan Guerra, e publicada originalmente por ele neste link)
Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.
Mais Pop Fantasma Documento aqui.
Cultura Pop
No nosso podcast, Alanis Morissette da pré-história a “Jagged little pill”

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No segundo e penúltimo episódio desse ano, o papo é um dos maiores sucessos dos anos 1990. Sucesso, aliás, é pouco: há uns 30 anos, pra onde quer que você fosse, jamais escaparia de Alanis Morissette e do seu extremamente popular terceiro disco, Jagged little pill (1995).
Peraí, “terceiro” disco? Sim, porque Jagged era só o segundo ato da carreira de Alanis Morissette. E ainda havia uma pré-história dela, em seu país de origem, o Canadá – em que ela fazia um som beeeem diferente do que a consagrou. Bora conferir essa história?
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: Capa de Jagged little pill). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.
Mais Pop Fantasma Documento aqui.