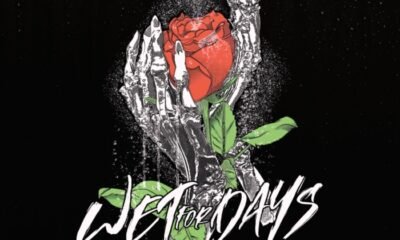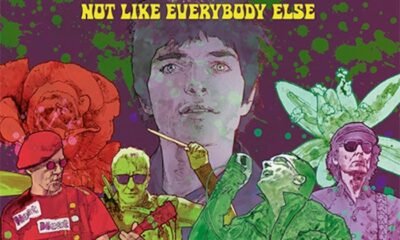Crítica
Ouvimos: Vanna Blue – “JoyCry” (EP)

RESENHA: JoyCry, EP de Vanna Blue, mistura dream pop e pós-punk em faixas hipnóticas que alternam luz e sombra, com texturas cintilantes e certa agressividade.
Texto: Ricardo Schott
Nota: 8,5
Gravadora: Noon Records
Lançamento: 13 de novembro de 2025
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
Com composição de repertório iniciada em 2019 – e com as trevas da pandemia, que rolou em 2020, ajudando a balizar músicas e letras – JoyCry, o EP de estreia da norte-americana Vanna Blue surge marcado pelo encontro entre dream pop e pós-punk. Mas surge também como o resultado do encontro entre alegrias e tristezas diárias, entre memórias ruins e boas, entre realidade e imaginação. Esse clima é absorvido por algumas faixas, como o pop vaporoso de Back and forth, que lembra o começo da fase eletrônica do Tame Impala – lembra também Angra dos Reis, sucesso da Legião Urbana.
- Ouvimos: Evvvie – How to swallow a lie (EP)
Tudo que surge no disco é filtrado por um clima meio hipnótico, até meio típico do dream pop, mas com uma certa agressividade que vem lá do fundo, como na mescla de The Cure e Cranberries de Pheromones (com guitarra bonita e melódica e vocal cheio de texturas) e FMHU, ou em Black and blue, cujos teclados e guitarras têm vibe mágica. Tides é dream pop com batida meio funkeada, numa estrutura musical que parece voar.
O disco tem também um momento ruidoso em Closer, faixa na qual algo meio sombrio vai surgindo aos poucos. Mas o principal de Vanna Blue e JoyCry é valorizar a cintilação sonora, em todas as faixas.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.
Crítica
Ouvimos: Nastyjoe – “The house”

RESENHA: Banda francesa Nastyjoe estreia em The house com pós-punk sofisticado: vocais graves, guitarras nervosas e clima indie cerebral. Pode virar favorita.
Texto: Ricardo Schott
Nota: 9
Gravadora: M2L Music
Lançamento: 16 de janeiro de 2026
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
Assumidamente referenciada em bandas como The Cure, Blur e Fontaines DC, a banda francesa Nastyjoe soa mais indie rock do que o grupo de Robert Smith e mais voltada ao pós-punk do que a banda do hit Country house – também soa mais cerebral que a fase atual do Fontaines. A cara própria deles está numa noção sofisticada de pós-punk, com vocais graves combinados a guitarras ágeis, baixos cavalares e bateria motorik.
- Ouvimos: Bee Bee Sea – Stanzini can be alright
Esse som aparece nas faixas de abertura de The house, disco de estreia do grupo: a boa de pista Strange place e a maquínica faixa-título, que lembra bastante Stranglers nos timbres de guitarra. Por sinal, o Nastyjoe é uma banda nova recomendadíssima para quem curtia a base carne-de-pescoço do grupo punk britânico, com direito a vocais falados no estilo de Hugh Cornwell na gozadora Dog’s breakfast – uma crônica musicada em que um sujeito começa a sentir inveja de um cachorro na rua (!).
The house tem ainda uma curiosa mescla de Stooges e Psychedelic Furs (Worried for you), uma concessão às vibes góticas oitentistas (a anti-fofinha Hole in the picture, que prega: “estou de saco cheio de ser gentil”), breves lembranças do Wire (numa pérola krautpunk intitulada justamente… Wire), guitarras em meio a nuvens (as duas partes de Things unsaid), punk garageiro turbinado (Blood in the back) e som deprê e frio (Cold outside). Pode ser sua banda preferida, um dia. Ouça e fique de olho.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.
Crítica
Ouvimos: Wet For Days – “Wet For Days”.

RESENHA: Wet For Days, trio punk canadense de mães, mistura Ramones, L7 e Buzzcocks em disco de estreia pesado, feminista e sem paciência pra machos imbecis.
Texto: Ricardo Schott
Nota: 8,5
Gravadora: Independente
Lançamento: 9 de setembro de 2025
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
“Banda punk rock de mães de Ottawa. Tendo seis filhos entre nós, nos unimos pelo amor ao rock and roll e por criar boas pessoas em um mundo difícil”. É assim que esse trio canadense define, mais do que seu som, seu propósito. Sarah (guitarra, voz), Steph (baixo, backing vocal) e Deirdre (bateria, backing vocal), as três do Wet For Days, somam emanações sonoras de bandas como Ramones, L7, Buzzcocks e Babes In Toyland em seu disco epônimo de estreia, e apresentam canções sobre sexo, feminismo, machos imbecis – e sobre não aturar gente imbecil de modo geral.
- Ouvimos: Besta Quadrada – Besta Quadrada
A banda abre com as guitarras distorcidas e o clima Ramones de Wet for days, seguindo com o imenso “larga do meu pé!” de Alpha male e os riffs graves de Anxiety, punk rock numa onda meio Dead Kennedys, cuja letra fala em “cérebro bagunçado e taquicardia” e pede que a ansiedade fique bem longe. Lembranças de The Damned e Motörhead surgem nas furiosas On the run e Listen up, e sons entre os anos 1980 e 1990 dão as caras nas esporrentas Kill your ego e Smile. No final, lembranças ruins na ágil Bad date.
Wet for days ainda tem duas vinhetas fofas em que as integrantes aparecem interagindo com suas crianças: em Don’t worry be mommy, uma brincadeira com os versos de Don’t worry be happy, de Bobby McFerrin, vai fazer você ficar com um sorriso bobo na cara o dia inteiro. Mas o principal aqui é o peso.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.
Crítica
Ouvimos: Vá – “Pra domingo” (EP)

RESENHA: Quarteto gaúcho Vá mistura prog autoral, MPB e indie rock em Pra domingo, EP ao vivo contemplativo, com pianos, guitarras e ecos de Radiohead e Khruangbin.
Texto: Ricardo Schott
Nota: 8
Gravadora: Independente
Lançamento: 25 de janeiro de 2026
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
Progressivo de malandro? Esse é um dos estilos musicais que a banda gaúcha Vá diz moverem seu som. No release do EP Pra domingo, registro audiovisual apresentando quatro músicas gravadas ao vivo em 2024 no Estúdio Trilha (Sapucaia do Sul, RS), o quarteto de Canoas (RS) conta misturar essa vertente própria do prog com MPB e estileira indie rock.
- Ouvimos: Assombroso Mundo da Natureza – Espectros
Com quatro faixas e 18 minutos de duração, Pra domingo é um disco marcado pelo clima contemplativo, em que pianos e guitarras constroem paisagens sonoras que fazem lembrar tanto o Pink Floyd quanto algumas mumunhas de soul progressivo e MPB. Estas últimas surgem em faixas como Via infinita e Arco íris, até que o som ganhe mais peso, mais dinamismo e uma ambiência sonora menos “vazada” – que remete tanto a Khruangbin quanto a Radiohead.
O lado “progressivo” surge em detalhes como as mudanças no andamento e no clima de Arco íris, criando quase uma parte 2 na música. Na segunda metade de Pra domingo, a tranquilidade de Desleixar, marcada por guitarras meio sombrias e um piano Rhodes – até que o clima relax proposto pela letra cede espaço para um interlúdio e um solinho de sintetizador. E um mergulho maior nas progressões, embora filtradas pelo peso dos anos 1990, nos vários segmentos de Olhos nos olhos.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.