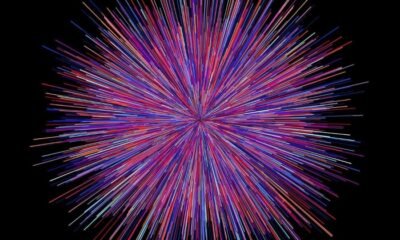Entrevista
Tributo à banda paulista Magüerbes ganha sua primeira parte, com várias regravações

Banda de Americana (SP), o Magüerbes, que une estilos como thrash, grindcore e hip hop, já tem três décadas de existência, completadas esse ano. A webrádio paulista Mutante Radio, que já realizou tributos a Dead Fish (Tá servido?) e The Bombers (Amor, fúria e amor) já havia decidido que os próximos da lista de homenageados seriam eles e sai agora a primeira parte do MGBS30 – Um tributo mutante aos Magüerbes.
O disco, lançado primeiro no Bandcamp do selo Mutante Discos, tem 19 faixas e estilos variados. O Tolerância Zero ficou com Tilt + Maquinofobia, Vital pôs bastante peso em Rumo, o Roboto deu balanço a Cara a tempo, a Footstep Surf Music Band encarou Base d´água e a banda Belize E Bermudas fez um ska em Sobre o sol. A homenagem punk metal à cidade natal da banda, Americana, foi para uma banda conterrânea, o Organa.
O criador da rádio, Ricardo Drago, diz que a ideia do tributo nem surgiu por causa das três décadas dos Magüerbes. “Já tinha eles na minha lista de tributos. Não sou muito de fazer os tributos em cima de datas, então eu tinha já uma lista bem adiantada. Só que aconteceu do Haroldo, vocalista dos Magüerbes, vir ao Estúdio Mutante dar uma entrevista pro Du, do podcast Deselegância 019. E lá pelas tantas, falando sobre os 30 anos, o Haroldo comentou que o Rafa Francischangelis, irmão do baterista Rica, estava com um tributo encaminhado”, diz ele, que por intermédio de Haroldo chegou em Rafa e viu uma lista inicial com 30 nomes.
O Magüerbes é uma banda importante do meio indie nacional. Fãs consideram o grupo, cuja formação tem hoje Haroldo (voz), Burga, Binho (ambos guitarra), Julio (baixo) e Rica (bateria) como uma das primeiras bandas de metal alternativo – esse tipo de mistura sonora só ficaria ilustre lá pelos anos 2000. Daí a lista grande, com vários convidados – e ainda faltavam nomes bem próximos do grupo, pelo que Drago lembra.
- Apoie a gente e mantenha nosso trabalho (site, podcast e futuros projetos) funcionando diariamente.
“Me ofereci pra ajudar e no mesmo dia comecei a falar com várias bandas e amigos. Conversei também com as bandas que o Rafa já havia convidado, e começamos!”, conta ele. Rafa, segundo Ricardo, saiu da produção por estar ocupado com outras coisas, e ele precisou tocar o trabalho sozinho. “Nisso o que eram 30 musicas, viraram as 82 que eles já gravaram”.
Oitenta e duas? Sim, como você leu no começo do texto, o que saiu foi apenas a primeira parte. São seis volumes de tributo aos Magüerbes, e em janeiro sai o próximo. Mais projetos na mesma linha estão por vir: ainda em novembro saem reagravações de dois álbuns dos Inocentes, Miséria e fome (1983) e Pânico em SP (1986). “Vamos ter pelo menos mais dois tributos aos Inocentes em 2025”, conta ele, que promete também uma regravação com várias bandas do álbum Sonho médio, da banda Dead Fish (1999), um tributo aos 30 anos da banda Gritando HC (“esse, um projeto do meu amigo Shamil que me convidou”, diz), e um outro à banda paulistana de ska punk Skamoondongos.
Mais: nas primeiras horas de 2025 a Mutante Discos lança o tributo à banda Muzzarelas, de Campinas (SP), definido por Drago como um projeto sonhado durante anos. “A ideia sempre foi fazer o Jumentor (primeiro álbum da banda, de 1995) inteiro. Enquanto não acontece, juntamos quatro faixas de cada disco deles e sai como álbum duplo no começo do ano”, diz.
E pelo visto essas produções dão trabalho… “É preciso ter paciência. Cada banda vive numa realidade. 99% das bandas topam na hora, ai você passa a data que você e todo mundo sabe que não será cumprida…”, conta Drago. “Só que quando você começa a receber as prés de uma musica que tem 30 anos, e a banda convidada dá outra vida àquela música, você só consegue pensar que tudo deu certo”. No começo do projeto, cada banda pode escolher a música que quer tocar, mas depois vai afunilando. “Já claro teve casos da banda pedir pra trocar e demos um jeito, afinal é um Tributo Mutante”, brinca.
“Uma coisa que é bem legal, é que sempre rola uma liberdade total. Tem banda que faz sua tradução da letra, reescreve, reinventa. E isso é a parte mais legal, as bandas dão uma vida nova àquela música que você conhece!”, diz o produtor, que, sem desprezas as outras plataformas de música, valoriza o Bandcamp para lançar primeiro os discos. “Nele, além de ser rápido e prático pra você colocar sua música, você pode monetizar sozinho, e realmente é só divulgar”.
Rica, baterista do Magüerbes, curtiu o resultado. “Achei que as bandas fizeram versões muito fodas, colocando a cara deles sem ficar muito preso na original. Estou ouvindo bastante, aliás”, conta. Para 2025, a banda anuncia o lançamento de um documentário contando a história das três décadas do Magüerbes (“trinta, trinta e um anos da banda”, diz), o lançamento do disco mais recente da banda Rurais (2023) em vinil, e o The roots of Rurais, “que é uma releitura de músicas velhas da época das demos e algumas do disco 2 (2004)”, complementa o baterista.
Entrevista
Entrevista: Arnaldo Brandão fala de show no Rio e lembra sua história no rock nacional

Nessa semana, rolam os eventos de final de ano da livraria carioca Baratos da Ribeiro – com direito à distribuição de um zine (um zine mesmo, de papel) com entrevistas e matérias falando da agenda da livraria, que por sinal também é uma das lojas de discos de vinil mais bacanas da cidade. Mauricio Gouveia, dono do local, decidiu dividir algumas dessas matérias entre sites que ele curte e, por sorte, o Pop Fantasma foi um dos sites escolhidos – e fomos convidados justamente para bater um papo com a lenda do rock brasileiro Arnaldo Brandão, que se apresenta por lá cm entrada franca na sexta, dia 12 de dezembro, às 18h (o endereço: Rua 19 de Fevereiro 90, Botafogo, Rio – Renato Lima é o DJ antes e depois do show).
Se você nunca ouviu o nome de Arnaldo Brandão… bom, com certeza você já ouviu Arnaldo e não sabe. Com 74 anos completados no dia 2 de dezembro, Arnaldo tocou em bandas como A Bolha, Brylho e Hanoi Hanoi. Acompanhou Caetano Veloso na A Outra Banda da Terra, além de ter tocado com Gilberto Gil (é ele quem toca baixo na música Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 1977), Raul Seixas, Gal Costa e Luiz Melodia. O tempo não para, música do Cazuza, é na verdade do Cazuza e do Arnaldo – sim, ele é coautor da faixa, e o Hanoi Hanoi fez sua versão da canção no disco Fanzine, de 1988.
Como se não bastasse, Totalmente demais, maior hit do Hanoi Hanoi, fez sucesso nos anos 1980 e foi reavivada inúmeras vezes, com relançamentos e remixes – e olha que se trata de uma canção que foi censurada em seu lançamento, em 1986. Nesse mesmo ano, Caetano Veloso gravou a faixa e a canção deu nome a seu popularíssimo disco ao vivo Totalmente demais – a versão do baiano fez bastante sucesso na época. Se não é o suficiente para você, em 2015 a Rede Globo levou ao ar uma novela chamada… Totalmente demais. Claro que a música do Hanoi Hanoi era o tema de abertura, só que aparecia cantada pela estrela pop Anitta.
Ou seja: Arnaldo conversa musicalmente com você há mais tempo do que você imagina. E eu, Ricardo Schott, ao lado de Fabio Caldeira e Mauricio Gouveia, batemos um papo com ele sobre sua história. A matéria sai aqui e no zine da Baratos. E anote: a tal agenda de fim de ano da Baratos inclui também o lançamento do livro LP todo dia: diário de um colecionador para colecionadores, de Leandro Menezes (Ed. Garota FM Books) nesta quinta (11), com Lucas Vieira de DJ; e o show de Marcos Vilella & Olhos de Nelson no sábado (13), com som do DJ Túlio Brasil. Sempre às 18h e com entrada franca.
Entrevista: Fabio Caldeira, Mauricio Gouveia e Ricardo Schott – Foto: Gracen Hook / Divulgação
Arnaldo, ao longo da sua carreira, considerando os inúmeros shows realizados, tanto em apresentações com as suas bandas quanto acompanhando outros artistas, você teria alguma recordação (ou recordações) que pudesse compartilhar conosco sobre os lugares que não fossem exatamente casas de shows, os espaço alternativos mais inusitados e legais em que você se apresentou?
Um dos espaços mais inusitados foi aí na própria Baratos do Ribeiro. E anteontem, sábado (dia 29 de novembro), eu toquei num lugar em Portugal, chamado Fábrica do Braço de Prata, que é uma antiga fábrica de armamentos e estava meio abandonada. E um psicanalista, um filósofo, fez uma ocupação lá. É um lugar enorme, com mais de meia dúzia de salas: um restaurante, uma sala de festas e várias salas repletas de livros.
Todas as salas têm muitos livros. Inclusive, no meu Instagram, Facebook, eu pedi até para o Rodrigo (Rodrigo Brandão, filho do Arnaldo, também músico, integra a banda Leela) botar lá umas fotos desse lugar onde eu toquei. E eu ia tocar na sala Nietzsche, mas acabei tocando na sala Foucault… Muito interessante o lugar. E tem tudo a ver com a Baratos da Ribeiro: o maior visual, o visual dos livros atrás, um espaço realmente aconchegante e inusitado.
E outro lugar inusitado em que toquei foi ali na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, num clube meio estranho. Eu percebi uma carga um tanto quanto diferente. Um local onde tinha um anúncio assim no salão onde a gente fez o show, tinha um cartaz escrito: “Proibido porte de armas”. Imaginei que fosse um terreno da milícia ou do Comando Vermelho, não sei exatamente. “Proibido porte de armas” é um anúncio meio sinistro.
E qual é a sua impressão sobre o caráter deste tipo de apresentação, performance, sarau, happening, em espaços não convencionais para shows? No sentido da informalidade e da liberdade, da oportunidade de testar, experimentar mais, nestas apresentações em espaços e oportunidades incomuns para tanto.
Performance, saraus, eu fiz muito no meu estúdio (Brandão é proprietário do complexo de estúdios de ensaio e gravação Hanoi, em Botafogo). O Tavinho Paes organizava muitos saraus poéticos e performáticos, e aconteceram vários eventos lá no sobrado antes da pandemia. Depois da pandemia, menos, né? Aconteceram poucos saraus lá. Agora, com esse lance de tocar em sarau, uma coisa que aprendi muito foi no CEP 20.000 (evento de poesia colaborativa, criado pelo poeta Chacal).
O CEP 20.000 foi muito importante na minha formação nesses últimos quinze, vinte anos. Porque lá eu tinha oportunidade de não só tocar com o Tavinho, acompanhá-lo ao violão, mas também fazer minhas performances, dizer meus poemas e cantar minhas canções de uma maneira muito espontânea, com várias outras pessoas, num clima de liberdade e de igualdade. É impressionante a qualidade poética do CEP 20.000. Me ajudou muito na minha formação.

Show de Arnaldo em Portugal, na Fábrica do Braço de Prata, ao lado do músico português Jorge Vadio (dir). Foto: Gracen Hook / Divulgação
Na sua produção solo, você tem por hábito colaborar, contar com músicos de diversas gerações (como as baixistas Tamara Janson e Eliza Schinner; o The Alberto, tecladista; o baterista Robson Riva, entre outros tantos), muitos jovens, inclusive. Ao que você credita este costume? E como faz para se manter atualizado sobre os novos músicos, artistas e bandas que surgem no cenário musical?
Eu tento me manter atualizado, mas é tanto músico novo, tanta banda boa. Como eu tenho três salas, três de ensaio e duas de gravação, eu fico surpreso. E tem muitas bandas novas que se organizam e fazem shows lá no meu sobrado (“sobrado” é como Arnaldo, por vezes, se refere ao seu estúdio). E aí eu entro em contato assim, ouço muita coisa boa, um monte de talentos novos. Uma coisa impressionante mesmo: no underground, como é que tem gente querendo se movimentar, pessoas bem jovens, de quinze, dezesseis, dezessete anos, já cantando, tocando. Isso é muito bom para a música, e muito instigante para mim, que já sou veterano.
Agora, em relação aos músicos, eu nunca pensei muito nesse negócio da juventude, não. Eu fui contratando os músicos na medida que os conhecia e que eu achava que eles tinham a ver com o meu som. No caso da Tamara, ele veio porque eu tocava com a Eliza (Schinner) e ela foi para o exterior, então ela me recomendou a Tamara. E o Robson (Riva)… eu já conheço o Robson há tanto tempo, e ele toca tão bem. Logo que o Hanoi-Hanoi entrou de férias em 1997, eu comecei a tocar com ele. E, além de ser muito bem humorado, ele tem muito suingue.
E o The Alberto eu também já conheço de outros carnavais, desde quando ele tocava com a Flávia (Couri), baixista que tocava também no Autoramas e agora está no exterior também. Ele era marido dela na época e eu o chamei para tocar. E, se não me engano, eu conheci o Alberto no CEP (20.000) mesmo. E é isso: eu sempre me oriento não pelos músicos serem novos ou velhos, mas pelo tipo de som que eles fazem, se tem a ver com o meu som, que é essa mistura de tudo um pouco.
Enquanto compositor, você já colaborou com muitos letristas de destaque, como Cazuza, Fausto Fawcett e, claro, o Tavinho Paes, seu grande parceiro — todos compositores de pena forte, sofisticação literária. Qual é a importância da leitura para você, no aspecto pessoal e para a sua produção artística?
Eu sou viciado em leitura, sou um acumulador de livros. Na minha infância, eu era muito pobre e eu pedia para minha irmã pegar um dinheiro no bolso do meu tio para comprar revistas em quadrinhos. Quer dizer, você vê como é que desde criança eu sou muito viciado em leitura. Anos mais tarde, minha mãe me comprou uma Bíblia ilustrada que me impressionou muito. E, depois, me lembro que minha mãe comprou um livro do Stefan Zweig, e eu era muito jovem, devia ter uns doze anos quando eu li esse livro, e também não entendi nada. Mas depois eu fui reler e entendi muita coisa. Stefan Zweig era o autor que acreditava que o Brasil era “o país do futuro”, publicou um livro com esse título inclusive, e eu li algumas coisas dele. Mas, depois, quando eu comecei a trabalhar com música…
Eu sempre fui muito curioso e aí fiquei viciado em jornal. Até hoje eu sou muito viciado no jornal, de papel mesmo. Agora que eu tô tentando abandonar (esse hábito), não só por causa do preço, mas porque acumula muito papel lá em casa. Eu não consigo ler tudo que eu quero, fico guardando jornais antigos, tenho pilhas de jornais lá, com artigos, principalmente os cadernos de cultura, mas eu gosto também da parte política, dos comentaristas, dos analistas. Eu sou muito curioso.
Cara, a leitura é tudo, mudou minha vida. Na hora do sufoco, os livros me ajudaram muito. Os livros, a educação, através da leitura, é muito importante. Principalmente a leitura da História. Sou muito viciado em História. Eu acho que a História da Humanidade, em particular, é tão importante quanto a Matemática e o Português. Todas essas coisas se misturam, mas a História tem uma importância enorme na minha vida. Junto com a Filosofia, a História da Humanidade é o que mais me interessa.
E qual é o barato de se apresentar numa livraria e disqueria como a Baratos da Ribeiro? Qual é a expectativa e o que o público pode esperar da sua apresentação no nosso espaço?
Olha, eu já me amarrei na primeira vez que eu toquei na Baratos, uns 20 anos atrás, ou mais. Foi uma coisa muito diferente. Eu lembro que eu comprei alguns livros lá sobre a história chinesa, e que eu não li até agora. Estão aguardando… E a expectativa é que eu espero que o público goste. Eu vou apresentar uma canção inédita, outras antigas e outras antigas também, mas que ninguém conhece — para muita gente vai parecer que são inéditas. Então, eu espero que o público curta a minha apresentação e que eu ainda possa voltar mais vezes, me apresentar de novo nesse maravilhoso espaço que é a Baratos da Ribeiro.
Recentemente rolou um reencontro do Hanoi Hanoi para gravar um disco ao vivo. Como se deu esse reencontro? Por que gravar o disco em Nova Lima (MG)?
Tudo aconteceu porque a Rede Globo lançou uma novela chamada Totalmente demais, na mesma época que eu ia gravar um DVD comemorando a minha carreira solo, numa festa chamada Insanidade, que é realizada em Belo Horizonte, pelo Dudu (produtor). E o Dudu é fã do Hanoi-Hanoi e acabou aceitando. Eu já tinha feito vários shows na festa dele, uma festa sensacional, que mistura música com teatro, uma coisa muito interessante, só maluco.
Aí, como eu ia gravar esse DVD lá da minha carreira solo e a Globo lançou essa novela, eu me lembrei dos velhos companheiros, que eu adoro, são meus amigos até hoje. E resolvi chamá-los. É essa última formação do Hanoi-Hanoi, que é o Marcelo da Costa, Ricardo Bacelar e o Sérgio Vulcanis. Fiz um reencontro para a gente aproveitar e gravar o DVD, uns cinco, seis anos atrás.
Ele demorou para ser lançado porque o guitarrista, o Sérgio, mora em São Paulo; o Ricardinho mora em Fortaleza. E eu mixei o disco primeiro no meu estúdio, mas ninguém gostou muito dessa mixagem. Depois o material foi para Fortaleza, o Ricardo mixou lá, mas também ninguém gostou muito da mixagem. Aí, na terceira mixagem, a gente chamou o João Damasceno, que é um técnico de som brilhante.
Ele começou a carreira junto com o Hanoi-Hanoi, lá em 1983, 1984, trabalhou com o Marcelo Sussekind, com o Paulinho Moska, trabalhou com muita gente. Infelizmente, o João Damasceno já é falecido, mas era um técnico maravilhoso. Então, ele mixou e todo mundo gostou. E a gente ia lançar antes da pandemia, mas veio a pandemia e, por isso, só estamos lançando agora. E gravamos em Nova Lima porque a festa foi lá, a “Festa da Insanidade”.
No Brasil, teve uma febre de discos ao vivo nos anos 1990, de acústicos – depois de DVDs, tinha gente que até já estreava com DVD antes de lançar disco de estúdio… Como você vê o peso de um disco ao vivo nos dias de hoje?
Os discos ao vivo são muito importantes porque eles representam não só a banda tocando de verdade, mas também a reação do público, né? Eu acho muito importante os discos ao vivo. Mesmo nos dias de hoje, eu acho genial. Claro que tem alguns discos ao vivo que são meio assim… eles botam um público meio falso, com esse público cantando as canções que às vezes as pessoas nem conhecem.
Mas, no caso do pessoal do pop rock, tem discos ao vivo maravilhosos. No pop brasileiro tem muitos discos ao vivo bons: do Capital Inicial, dos Titãs, Camisa de Vênus, Barão Vermelho… Internacionalmente, também tem discos ao vivo… Aquele dos Rolling Stones, Get yer ya-ya’s out!, é muito bom! Enfim, eu acho muito legal. Agora ninguém mais chama de DVD, né? O nosso está saindo, mas não está saindo (no formato) físico, o que é uma pena. Eu até gostaria de lançar um DVD físico, mas a gente está lançando só digitalmente mesmo, por enquanto.
Nos anos 1980, você já estreou chamando a atenção da censura, com músicas como Garota do ano, Totalmente demais, etc. Você diria que os novos ares do Brasil — já que a ditadura militar estava terminando, não tinha mais AI-5, etc — levaram você a querer construir uma obra mais provocadora nos anos 1980?
Eu acho que sim, porque a banda que eu tocava, A Bolha, fez muito sucesso, muito sucesso mesmo, nos anos 1970. 1969, 1970, 1971, foram anos em que eu era muito jovem e ganhei bastante dinheiro tocando com A Bolha, especialmente no subúrbios do Rio, onde a gente ganhava mais grana, e na zona sul também. Não só nos bailes, mas também no Museu de Arte Moderna, na UNE, onde fizemos um show para a UNE arrecadar dinheiro, porque ela tinha sido incendiada pelos militares, pela ditadura.
Então quando houve aquela época do “Brasil, ame-o ou deixe-o”, eu abandonei o Brasil e resolvi estudar música. A princípio, eu ia para Nova York, mas eu tinha menos de vinte e um anos e não consegui autorização dos meus pais. Acabei indo para Londres, e foi muito bom também. Mas a minha ideia sempre foi voltar para o Brasil para criar música aqui. E quando eu cheguei no Brasil, já com filho pequeno, eu comecei a trabalhar com o Raul Seixas, em 1975. Mas aí o Raul começou a parar de fazer show. Aí, eu larguei o Raul e fui trabalhar com o Luiz Melodia, com o Jorge Mautner.
Logo depois, o Gil me chamou para fazer os Doces Bárbaros. E depois disso eu toquei com muita gente: Frenéticas, Luiza Maria, no primeiro disco do Zé Ramalho. Gravei com o Caetano Veloso. Até que a gravação de Odara estourou e eu achei que o Caetano ia me chamar para acompanhá-lo, mas ele acabou chamando a Banda Black Rio. Depois, não deu muito certo com a Black Rio e o Caetano me chamou para formar A Outra Banda da Terra. E eu sempre de músico acompanhante, né? “Serviçal do Samurai”, como diz a música do Djavan. Sempre dando força e energia para esses grandes artistas, com quem eu sempre aprendo muito. Aprendi e continuo aprendendo muito. Também toquei com o Jorge Ben por muito tempo, muitos shows ao vivo.
E quando a ditadura estava quase apodrecendo e a Blitz estourou com Você não soube me amar, eu resolvi voltar para o rock. E, junto com o Tavinho Paes, a gente provocava o máximo possível a ditadura. Tanto é que… A porta já estava meio escancarada, mas ainda tinha censura em 1985, quando a gente gravou — parece que a ditadura só acabou oficialmente em 1986. Mas nossas músicas foram proibidas de terem execução em rádio: Garota do ano, eles achavam que era uma homenagem aos homossexuais. Teve uma música também, chamada Spartana, que não podia tocar no rádio por causa da palavra “tesão”.
A Censura mandou cortar, a gente não cortou e a música ficou proibida para execução. E ainda teve outra, chamada Testemunha, que falava sobre o caso Polila, um caso rumoroso já no final da ditadura, do assassinato do Baumgarten, enfim. Aquelas confusões da ditadura. Então, a gente realmente gostava não de provocar exatamente a ditadura, mas de afirmar as coisas que a gente achava naturais na nossa vivência, apesar da Censura.
Mas, com certeza, eu gostava de provocar a caretice reinante na sociedade brasileira. Aí, era coisa mais de provocação mesmo, e de afirmação da turma com quem eu convivia: o Tavinho, o pessoal do Barão, enfim.
E eu queria, que nem aquela música que o Lulu (Santos) fez com Antônio Cícero, unir a Zona Norte à Zona Sul. Aí, acabei montando o Brylho, que éramos eu e o Paulinho “Motoca” Zdanowski, da Zona Sul, e o Paulo Zdan e o Robério Rafael, que eram de São Gonçalo.
Conte a história de Totalmente demais, de como ela foi composta… E também de como ela foi censurada. Ela teve a execução pública proibida, como tá até na capa da estreia do Hanoi Hanoi, mas virou hit mesmo assim. Como isso foi se dando?
Eu tinha feito essa canção com o Robério Rafael, no quarto do hotel, na base do “nã-nã-nã”, “lálálá-lálálá”, uma mistura meio em inglês, meio em portunhol, e tinha um trecho que falava: “You don’t need anybody — Sexy Say, Sexy Say”. Uma coisa que não faz muito sentido.
Mas o Tavinho Paes gostou dessa sonoridade e na hora que eu completei essa canção na casa do Tavinho, um dos filhos do Tavinho passou nu, saindo do banheiro, e eu comentei e perguntei: “Olha que bebê lindo! Qual o sexo dele, homem ou mulher? Aí o Tavinho já emendou: “Linda como um neném, que sexo tem?”. Aí, começou. E, ideia do Tavinho, começamos a compor uma música em homenagem às mulheres maravilhosas que a gente conhecia nos anos 1980, que eram “mulheres avançadas” para época, contra a caretice, que gostavam de namorar, que gostavam de ficar felizes, se drogavam, que curtiam a vida adoidado, já no final da ditadura.
Então, essa música é praticamente uma montagem de várias mulheres que a gente admirava, e admira até hoje. Tipo um Frankenstein. A gente fez uma montagem de várias personagens, de várias mulheres maravilhosas, e montamos essa “totalmente demais”. E ela teve a execução proibida porque a censura, a dona Solange (chefe da censura nos anos 1980), achava que era uma homenagem à homossexualidade.
E virou um hit porque a censura acabou, o Caetano gravou e a música começou a tocar muito em Minas Gerais e em São Paulo. Muito, muito mesmo. Espontaneamente. Porque a nossa gravadora na época, RCA (depois virou BMG e, depois, Sony Music Brasil) era comandada pelo cara que vinha dos Fevers, parceiro do Paulo Massadas e do Michael Sullivan, como é mesmo o nome dele? Miguel… Miguel Plopschi. E ele não curtia o nosso som.
Inclusive, uma vez eu vi o Tim Maia aos gritos, querendo bater no Miguel Plopschi. Ele gritava: “Miguel Plopschi, abre a porta aí, Miguel Plopschi! Tá com medo de mim? Miguel Plopschi, quer dizer que agora o Tim Maia não entende nada de música brasileira, quem entende de música brasileira agora é o Miguel Plopschi e o porquinho dos The Fevers?! (Porquinho era o apelido do compositor Michael Sullivan)” E ele falava isso e cuspia, aos gritos. E o pessoal na gravadora, que ficava ali num prédio em Copacabana, com medo dele, trancados nas suas salas… E o Tim Maia acabou se juntando a mim, ao Afonsinho e ao Pena, que eram da primeira formação do Hanoi-Hanoi, num quartinho lá do depósito de equipamento onde a gente ensaiava.
E a gente queria saber um pouco dos bastidores daquele show do Raul Seixas no Hollywood Rock, em 1975 – que é aliás um show que foi lançado em filme nos cinemas (Ritmo alucinante, dirigido por Marcelo França), tem como ser assistido inteiro no YouTube, e é uma preciosidade para os fãs do Raul e para os fãs da turma que tocava com ele. O que você se recorda daquela noite? Rolaram ensaios, ou o Raul não era muito de ensaiar?
Gozado. Eu fui morar em Londres, mas teve uma hora que eu não aguentei o inverno, muita droga. Aí eu resolvi passar o verão de 1974 no Rio. E eu estava no Rio quando o Gustavo Schroeter, meu companheiro na Bolha, me chamou e falou: “Olha, o Raul Seixas quer gravar com a gente”. E o Raul já era fã da Bolha: quando ele era produtor, ele chamou A Bolha para gravar com o Leno, da dupla Leno & Lílian, um disco mais de rock pesado (Vida e obra de Johnny McCartney, gravado em 1971, censurado e só lançado inteiro em 1995, já em CD), porque o Leno queria mudar o som dele e tal. Então, eu conheci o Raul produtor.
Mas em 1973 o Raul estourou e quando eu voltei para o Brasil, em 1975, o Gustavo me chamou de novo: “Olha, o Raul tem show agora, no Hollywood Rock, daqui a uma semana, e você está convocado”. Aí, ensaiamos eu, o Gustavo e o Fredera (guitarrista), na casa do Fredera, ali na Rua Duque Estrada (no bairro carioca da Gávea), mas o Raul não apareceu em nenhum ensaio. Daí, no dia do show, choveu muito e o show foi cancelado, foi transferido para a semana seguinte. Raul também não apareceu em nenhum ensaio, e quando ele apareceu para pegar a gente para fazer o show ele já estava naquela fase daqueles excessos, né? O que eu achei uma pena.
Mas eu me lembro dele preocupado com o show, preocupado porque o Erasmo Carlos estava tocando também no festival e como ele ia tocar algumas músicas do rock antigo ele não queria repetir as mesmas músicas do Erasmo. E muita cocaína no camarim, né? Muita, muita… E, assim, foi um show muito tenso, porque vivíamos a ditadura ainda em 1975 e o Raul não queria nem saber, né? Ele falava: “Faz o que tu queres, pois é tudo da lei”.
E Como vovó já dizia ele cantava o refrão censurado… Porque quando a gente gravou Como vovó já dizia, em 1974, o refrão era: “quem não tem colírios, usa óculos escuros / quem não tem papel, dá o recado pelo muro / quem não tem presente, se conforma com o futuro”. E, como foi censurado, ele e o Paulo Coelho mudaram a letra para “quem não tem colírio, usa óculos escuros / quem não tem filé, come pão com osso duro/ quem não tem visão, bate a cara contra o muro”.
Mas a letra original era muito mais forte e o Raul sempre cantava a letra original. E eram sempre muito tensos os shows com o Raul, por causa dos excessos, e por causa da falta de ensaio também — afinal, só nós três da banda ensaiávamos, pois o Raul nunca ia aos ensaios. Mas foi muito divertido, apesar da tensão no camarim. Porque, quando você passa do ponto de cheirar muito, você fica meio paranoico, né? Então rolava um certa paranoia de que a gente poderia ser preso, que podia acontecer alguma coisa com a gente. Mas, graças a Deus, tudo rolou da melhor maneira possível, estamos vivos até hoje — e é uma pena o Raul não estar vivo com a gente.
E como dono do Hanoi Studios, como é passar para o lado do cara que administra a música, que vai ver a música com um olhar de empresário?
Eu comecei aquele estúdio porque meu pai tinha uma oficina ali e com a minha primeira banda no colégio eu ensaiava lá em cima, no sobrado. Mas a vizinhança reclamava muito. E quando o Hanoi-Hanoi começou a acontecer, a tocar na rádio, a gente precisava ensaiar e aquela salinha na RCA era muito pequena. Então, tinha um espaço ali, aquele sobrado fazia parte da oficina. E eu consegui montar uma sala de ensaio ali, depois que meu pai morreu. E a ideia era manter a sala de ensaio mais para mim mesmo, pro Hanoi-Hanoi.
Mas como eram poucas salas de ensaio que existiam no Rio de Janeiro, na Zona Sul, eu comecei a alugar pros amigos. E a coisa foi crescendo e eu fui investindo. Depois da primeira sala, como às vezes acabava não tendo lugar para eu ensaiar, eu acabei montando uma outra sala. Estúdios A e B. E, muito tempo depois eu montei uma sala de gravação. E, depois, com sucesso dessa novela Totalmente demais, eu montei uma terceira sala de ensaio e outra sala de gravação. E aí eu acho que eu passei do ponto.
Dá muito trabalho tomar conta do estúdio. Apesar das canoas estarem na mesma direção, eu ficava com um pé em cada canoa, mas com assuntos diferentes, né? Porque você ser empreendedor no Brasil é muito difícil, é muito complicado. E a vizinhança começou a reclamar do movimento. Aí, eu fui obrigado a abrir uma empresa, tive que gastar uma fortuna para não importunar os vizinhos com o som alto, investindo muito em paredes duplas para o som não vazar para vizinhança e tal, para ter uma boa relação com a vizinhança. E também investi em amplificadores valvulados, porque eu sempre achei que amplificador valvulado é que era o grande lance.
Mas depois da pandemia, e antes mesmo da pandemia, mas principalmente com a coisa da pandemia, e dessas guerras que surgiram no mundo, a Rússia invadindo a Ucrânia, aquela confusão toda, as válvulas ficaram muito caras. Porque os Estados Unidos pararam de produzir válvula, devido à exposição, pois sempre escapa um pouco de radiação na hora da produção da válvula. E então os Estados Unidos transferiram a produção para a Rússia e para a China. E, apesar da China continuar produzindo novas válvulas, encareceu muito.
Então, é uma situação crítica. Porque, além das válvulas serem muito caras, os amplificadores valvulados são mais sensíveis. Então a manutenção desses amplificadores é muito cara também. Então, até a pandemia os estúdios estavam indo muito bem. Mas na época da Dilma eu tive que demitir dois funcionários, que tinham carteira assinada, e quando eu estava me levantando de novo, veio a pandemia e o negócio ficou ruim mesmo.
E agora eu pedi para o meu filho mais velho, o Rodrigo, dar uma administrada lá no estúdio, e ele tá querendo que eu venda alguns amplificadores valvulados, que são muito valiosos, para comprar os transistorizados, que são mais resistentes. E talvez eu tenha que vender. Eu tô com pena de vendê-los, mas vamos ver o que acontece. Porque o cara que consertava os amplificadores valvulados também desapareceu, acho que ele morreu, e tem pouca gente consertando valvulados.
É uma coisa mais específica, tá virando uma raridade. Mas eu vou tentar manter os valvulados lá. Vamos ver o que acontece. Mas dá muito trabalho tomar conta do estúdio. Ainda mais agora que são três salas de ensaio e duas de gravação. Eu acho que passei um pouco do ponto. Deveria ter ficado com um estúdio só, porque era mais tranquilo. Eu fui um pouco guloso.
Entrevista
Entrevista: Les Rita Pavone fala sobre disco de estreia, cena musical paraense, viver ou não de música

Em 2025, a banda paraense Les Rita Pavone fez 12 anos de existência – entre shows, alguns hiatos, alguns singles e várias mudanças de formação. O grupo hoje é um quinteto formado por Gabriel Gaya (voz e composição), Arthur da Silva (violão, voz, teclado, cavaquinho e produção), Helênio Cézar (baixo), Jimmy Góes (guitarra) e Luiz Otávio de Moraes (bateria) e em maio, eles lançaram o ótimo primeiro álbum, ¡El baile rock!, cuja repercussão chegou à lista dos 50 melhores disco do primeiro semestre de 2025 da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).
Quando resenhei o disco, achei que a banda estava sendo irônica com a limitação de vários segmentos do público roquista ao incluir em sua estreia sons latinos, revoluções sonoras a la The Clash e Mano Negra, e sambas com cavaco e guitarra. Nada disso: no papo abaixo, Gaya, Arthur e Jimmy contam como o rock, no caso deles, inclui vários estilos e perspectivas.
(se você quer saber se rolam confusões nas plataformas de música entre o nome da banda e o da veterana cantora italiana Rita Pavone, eles já falaram sobre isso com a gente)
Texto e entrevista: Ricardo Schott – Foto: Safo / Divulgação
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
Quando fiz a resenha do ¡El baile rock!, imaginei (e disse isso no texto) que havia uma certa ironia no título do disco, já que se trata de um álbum musicalmente bastante diversificado. Aí vocês me falaram por DM que não se tratava de nenhuma ironia. Expliquem isso aí.
Gaya: Eu entendo o rock como um ritmo modular, que por isso teve tantas transformações e ramificações com o passar do tempo. Ao entrar em contato com alguns discos do rock latino, e com bandas brasileiras influenciadas por esse tipo de rock, como Acabou La Tequila e Pato Fu, vi que a diversidade de ritmos é meio que o padrão. E o que credencia esses discos como discos de rock é justamente as escolhas de timbragem e o trabalho conceitual. O disco tenta achar esse ponto de intersecção entre a música brasileira, psicodelia, rock, latinidade e a experiência de viver em uma cidade da Amazônia urbana.
Jimmy: O rock permeia todas as faixas de alguma forma, no sentido do ritmo musical, na influência que cada um tem desse estilo, e no sentido da palavra, que em Belém é algo referente a uma “festa”. Mas interpretar o título do álbum como tendo essa certa ironia não tá errado. Faz parte do que a banda propõe essa “confusão” de significados.
Arthur: O nome denota exatamente o que o disco se propõe a ser, mostrar uma outra perspectiva de rock, mais dançante, gingada (daí o “baile”) e voltado às nossas influências amazônicas e latinas, uma forma de interpretar o artigo em espanhol “El”.
Vocês estão ficando felizes com a receptividade do disco? Dá para perceber que o Les Rita vem progredindo bastante no número de fãs e menções na mídia, certo?
Gaya: Fico feliz sim com a receptividade, a entrada na lista da APCA… Mas sempre confiei muito nesse repertório e no conceito criado. Queremos nacionalizar a banda. Mas pra ter realmente um público mais substancial, do tipo que paga suas contas, ainda precisamos saber trabalhar melhor com as possibilidades da internet.
Jimmy: Quis gravar com a intenção de fazer um registro das músicas e só. Não esperava que houvesse uma receptividade como está tendo. As pessoas curtem os shows, mas geralmente a gravação não fica com a mesma energia de um show. Mas tá sendo interessante perceber que, mesmo assim, as músicas tem alcançado as pessoas. Nunca imaginei que o solo todo torto que eu fiz na última música fosse fazer parte de um disco que ficaria na lista da APCA.
Arthur: Isso é muito engraçado, porque há relativamente pouco tempo atrás, tinha gente que pensava que a banda sequer existia mais. Nossos lançamentos em forma de single foram uma boa estratégia porque pavimentaram o ambiente para o lançamento do álbum e construíram a receptividade por parte do público.
Quanto tempo vocês demoraram gravando o disco?
Gaya: Pra mim o disco começou a ser gravado em 2021 quando começamos a gravação de Eva. Aí firmamos a parceria com o Studio Z do querido amigo Thiago Albuquerque, e um certo padrão de produção foi estabelecido.
O disco foi quase todo feito nas minhas folgas do trabalho alinhadas com o tempo livre de cada integrante da banda e participantes em geral – se eu deixei de estar em duas sessões, foi muito. Depois de tudo, ainda passamos um pente fino pra definir a mixagem e dar uma certa concisão no disco todo. Porém, só foi feito um ajuste fino de volume.
Arthur: A primeira tentativa de gravação dessas músicas já tinha rolado antes de eu entrar na banda, mas voltamos em 2022. Já estava mais do que na hora de registrar esses sons e lançá-los.
O disco, como vocês falaram no texto de lançamento, resgata a memória afetiva da banda – tem faixas feitas há tanto tempo que são assinadas por ex-integrantes, etc. Como foi mexer nesse baú do grupo?
Gaya: Ainda nem mexemos no baú! Nós apenas registramos as músicas que já eram tocadas em shows antes da saída deles e continuaram sendo tocadas. E muitas delas foram feitas a seis mãos, como Pira de pajé, Fui cumê e Café Havana – em que eu tive um papel muito ativo na composição.
Arthur: Essas músicas são tocadas desde quando os ex-integrantes ainda eram da banda, e permaneceram no repertório mesmo após a saída deles. O Les Rita é uma família musical, vários compositores passaram pela banda e foram deixando suas contribuições.
Jimmy: São músicas que fazem parte do repertório de um jeito “vivo”. Elas meio que são parte da identidade da banda.
Gaya: Mesmo composições como Radio AM – em que eu não assino a autoria – encontraram suas versões definitivas a partir de proposições feitas por essa “nova formação”, que na verdade já tem seis anos. Teve, por exemplo, a inserção do dial da Rádio Clube, uma rádio paraense histórica do AM. Isso foi uma sacada do Arthur, e deixou a música ainda mais linda.
O baú da banda de fato são as canções que eu, Rafael e Mateus escrevemos – algumas em parceria – nos nossos anos formativos como compositores. Nessa gaveta não estão apenas canções mas também uma série de conceitos pra discos em que elas foram agrupadas a época. Quero mexer nesse material após o lançamento do segundo disco.
Aliás vocês têm dois ex-integrantes que são bem próximos do grupo: gravaram vocais, assinam faixas, um deles carrega “Pavone” no sobrenome artístico… Como é essa relação com eles, ao mesmo tempo tão perto e tão longe?
Gaya: Vou deixar primeiramente um comentário sobre o nome “Rafael Pavone”. Em 2012 quando a gente lançou o primeiro single no Soundcloud, que foi a marcha rancho Sentimento do mundo, a banda na verdade era um trio de compositores. Não havia uma formação do tipo guitarra, baixo, bateria – até por isso eu conto os anos da banda a partir do primeiro show em novembro de 2013. Quando mandamos o release pra rádio assinamos como: Gabriel Pavone, Mateus Pavone e Rafael Pavone. Mas só o Rafael prosseguiu usando o nome, acabou virando o nome artístico dele.
A ideia inicial quando decidimos fazer o disco era que ele seria produzido a seis mãos por mim, pelo Mateus e Rafael. Mas por vários motivos isso acabou não acontecendo e quem assumiu a produção fomos de fato eu e o Arthur, em todas as faixas – com exceção de Fui cumê, que o Mateus co-produziu com a gente. A participação deles no disco foi meio natural, até porque grande parte do repertório nós construímos juntos e acredito que essa vai ser uma constante na discografia da banda; já tem canções listadas de ambos pra entrar no segundo disco…
Jimmy: O Mateus e o Rafael moram em Belém. O Rafael tá no grupo da banda (no Whatsapp). Tudo que a gente conversa no grupo ele fica ciente, ele dá a posição dele quando acha que deve, enfim. Tem até uma piada interna em que a gente fala que o “Mais Querido” (apelido do Rafael) está sempre presente em nossos corações. Isso surgiu numa época em que ele ainda cantava nos shows, mas dificilmente ia pros ensaios por conta da vida.
O Mateus lançou um trabalho musical recente também, A imitação do vento (assinando com seu nome verdadeiro, Mateus Moura). Ele é um artista que produz muito, então frequentemente a gente se encontra pelos espaços, troca ideia e tal. Ninguém tá nem tão perto e nem tão longe. Acho que isso se encaixaria mais pro Mael, que é quem assina Chinatown. Atualmente ele mora na Alemanha e já faz tempo que ele fez parte da banda. Então é o que tá perto, no sentido de que a música dele tá no disco, mas longe no tempo e no espaço.
Aliás, qual foi o motivo que mais fez gente sair do Les Rita Pavone?
Gaya: Acredito que fechamento de ciclo, surgimento de outras prioridades, cansaço – e algumas fricções, sim. Eu mesmo de vez em quando dou uns hiatos da banda. No ano de 2024 fizemos pouquíssima coisa juntos porque após o show de dez anos da banda, em novembro de 2023, e após a finalização do disco, eu me senti meio exaurido. Além disso ainda teve a morte do pai do Jimmy, que deixou todos da banda de luto.
Eu acho importante dar esses respiros – principalmente em um projeto que ainda não é fonte de renda pra ninguém. Então, quando voltamos, estamos com a energia renovada pra trabalhar.
Como vai a cena musical de Belém? Atualmente quais são os maiores desafios e as maiores vitórias de quem vive aí e trabalha com música?
Gaya: Um dos movimentos mais importantes em termos de “cena paraense” ultimamente tem sido a página/grupo de whatsapp Ouça Rock Paraense (@oucarockparaenese) que tem movimentado eventos de música autoral na cidade e dando destaque pra lançamento de singles e discos das bandas daqui do Estado.
Outra iniciativa importantíssima aqui em Belém é o trabalho desenvolvido pelo músico e produtor Renato Torres, que inclusive produziu nosso primeiro EP Voltar a viver. É o Roda Cancioneira, que acontece na loja Na Figueiredo, em que ele chama um elenco base de compositores tem a oportunidade de mostrar suas músicas para um público que vai lá para ouvi-las. Depois tem microfone aberto.
Acho que o maior desafio pra qualquer empreitada aqui em Belém é a formação de plateia. Isso passa por estabelecer parceria com produtoras e outras bandas e pensar em estratégias pra chegar no público. Ultimamente temos feito muitos esforços nesse sentido e nossa parceira mais regular tem sido a produtora Perau, que presta assessoria pra artistas e bandas aqui em Belém.
Já as vitórias têm sido as pequenas: lançar nossos trabalhos, manter uma certa regularidade de shows… Neste ano pela primeira vez conseguimos ser aprovados em um edital.
Como vocês veem o fato do rock brasileiro aparentemente “não fazer parte” (muito entre aspas) do rock latino-americano?
Gaya: Engraçado você perguntar isso porque o documentário Rompan todo, que foi feito sobre o rock na américa latina, exclui o Brasil dessa história. E olha que Roberto Carlos, Rita Lee e Secos e Molhados fizeram muito sucesso na América Latina, teve todo o esforço por parte dos Paralamas em se inserir dentro desse contexto do rock latino… As conexões são enormes, mas muitas vezes esquecidas e até mesmo intencionalmente apagadas.
Jimmy: Existe uma barreira que é a língua. Se no Brasil houvesse uma política de se priorizar aprender a língua espanhola, talvez a gente conseguisse se integrar mais com os povos dos países vizinhos em termos de cultura.
Arthur: Tem que pensar até no que é “rock” e no que é considerado “brasileiro”. O que ficou conhecido enquanto “Rock Nacional”, as bandas do Sudeste/Sul, de fato não se comunicou com grande afinco à vizinhança latina. Teve a exceção dos Paralamas. Porém, na música amazônica – pensando Amazônia como território que transcende o Brasil – a injeção da guitarra psicodélica na tradicional música peruana foi decisiva para influenciar a guitarrada no Pará e o beiradão no Amazonas. E eles também se fundiram com a musicalidade caribenha não só espanhola, mas também dos países francófonos.
Esse, pra mim, é o grande ponto do debate: quais partes do Brasil não se comunicaram com as infusões que o rock trouxe para a América Latina? Porque enquanto o Sudeste já chegou a fazer até marcha contra a guitarra elétrica, a Amazônia pegou a guitarra elétrica e deu a ela um sotaque próprio e único.
Vocês têm fãs em outros países de língua latina? Ou até em outros países falantes de português, por que não?
Arthur: Tenho um trabalho solo e um contato de fã na Colômbia – é a única pessoa estrangeira que eu conheço. Quero apresentar o Les Rita a ela, tenho certeza que ela vai curtir.
Jimmy: Tem uma amiga chilena que conheceu nosso trabalho. Talvez ela conte como uma fã de outro país.
Gaya: Surgiu até uma proposta da gente fazer uma turnê na Argentina, mas infelizmente era golpe. Na real era um cara tentando vender um pacote de turismo em um esquema “pay to play” dizendo que a gente ia ter a honra de tocar no mesmo estúdio que o Ceratti, do Soda Stereo, tocou. Com todo respeito ao Ceratti e ao Soda Stereo… achei tudo isso um engodo. Apesar das estatísticas do Spotify for Artists apontarem que temos ouvintes fora do país, ainda não rolou algo realmente palpável nesse sentido. Eu particularmente adoraria tocar em festivais da América Latina ou mesmo em Portugal e Angola e acho que isso de fato ajudaria a aumentar nosso público nesses lugares.
Passamos por desgovernos, mortes, pandemia, etc. Qual a visão que vocês têm de futuro atualmente e o quanto isso impacta o som de vocês?
Jimmy: Eu penso que a gente não passa de 2050, mas, sinceramente, isso não impacta muito o meu trabalho, pessoalmente falando. Quanto o som da banda, talvez a gente faça uma música sobre isso tudo pro próximo disco. Bora ver.
Arthur: Tenho tentado não ser pessimista em relação ao futuro, já que o pessimismo também é uma ferramenta política. Gosto muito de pensar no que o Antônio Abujamra falou sobre o artista do teatro, e que adaptei à arte de um modo geral: “Tem que ser torcedor do América”. Sofredor, mas nunca deixar de acreditar até o fim, manter a esperança no intangível.
O Gabriel é um exemplo disso. Ele pretende seguir com o Les Rita até o fim, ou do mundo, ou o dele próprio. É o cara mais apaixonado pela música que eu conheço. Nosso som tem tudo a ver com a nossa realidade, e isso vai permanecer. Que o Les Rita Pavone seja uma das trilhas sonoras pra adiar o fim do mundo!
Gaya: Depois de sobreviver à pandemia, veio a consciência do quão essencial pra nossa existência é a realização de projetos. O lançamento desse disco pra mim é a materialização de um sonho. Engraçado vocês (Arthur e Jimmy) falarem de fim do mundo porque isso vem sendo um tema recorrente em vários trabalhos que entrei em contato: Pic Nic, com o ótimo single Aniquilação, Luedji Luna, Menores Atos… vários artistas vêm falando disso. Uma das muitas coisas que eu gosto de fazer no meu parco tempo livre é assistir vídeos de biologia na internet e neles uma constante é que as “grandes extinções” tendem a demorar milhares de anos. Então, provavelmente – e apesar dessa “coisa no ar”- ou estamos muito longe do fim, ou azarentos o suficiente pra estar bem no ponto X.
Vocês já conseguem viver de música? O que cada um faz da vida?
Gaya: Eu não vivo de música, mas sem música também não vivo. Já ganhei um dinheirinho discotecando ou fazendo seleção de músicas pra ambientes. Mas meu ganha-pão mesmo vem da profissão que comecei há 12 anos que é o trabalho de garçom e que, modéstia às favas, eu sou bom pra caralho! Tenho um trampo fixo que é o Bar do Parque, o bar mais antigo do Brasil em funcionamento atualmente, e trabalho em mais uns dois bares como extra. Quero fazer Enem esse ano pra música ou jornalismo, mas sempre tenho aquele fio de esperança da banda se tornar viável comercialmente.
Arthur: Somos artistas proletários. Além de nós, Cézar é professor de Inglês e também estudante e Luiz Otávio trampa com cozinha. Por enquanto eu trabalho 100% com música. Tenho dois EPs lançados, Acenei e Tese brega-soul, participei de projetos de outros amigos como músico, vou lançar trampo novo com a Velhos Cabanos, outra banda daqui… Mas dou aula de violão, produzo em estúdio, faço gigs em bares. A gente se desenrola em mil corres pra segurar o sonho. “No mais, vida de artista”, dizia Itamar Assumpção.
Jimmy: Eu sempre vivi de música, de um jeito ou de outro. Meu pai é considerado um dos maiores compositores do Brasil. Ele é conhecido como Tonny Brasil, pai do tecnobrega. Com o trabalho dele foi possível construir a casa onde eu vivo hoje, entre outras coisas. Mas eu mesmo não consigo me sustentar com o meu próprio trabalho com música. Estou terminando uma graduação em Letras, vou me tornar professor de português e pretendo prestar concurso pra conseguir me estabilizar.
Nos últimos anos vocês lançaram EP, single, o álbum… e imagino que vocês sejam o tipo de banda que mal lançou alguma coisa, já pensa num próximo lançamento. Já têm algo em mente?
Gaya: Na real, o EP Voltar a viver foi um relançamento via Maxilar de um trabalho que já tinha sido lançado em 2017, mas só estava no Soundcloud e YouTube. Mas sim o conceito do segundo disco já está definido e com repertório pré-selecionado, e terá o nome de A arte da fulerage. Como meu planejamento com a banda é a longuíssimo prazo, após esse disco um dos caminhos possíveis é retomar as canções que foram feitas antes desse dois discos – o real baú da banda. O ideal seria lançar um disco por ano, o que é difícil pra realidade independente. Mas com esse material daria pra lançar uns cinco discos e ainda sobraria música pro meu disco solo.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.
Entrevista
Entrevista: Marcelo Mira (Alma Djem) fala sobre o DVD Acústico em São Paulo

Banda de reggae criada em Brasília em 1997, o Alma Djem surgiu na época em que o CD mandava no mercado, vinil era peça de museu, fita K7 era portabilidade, as pessoas alugavam filmes em VHS, e internet era coisa para poucos – YouTube e Inteligência Artificial, então, só em sonho. Aliás, Marcelo Mira, cantor, compositor e criador do grupo, diz que até já tentou compor usando IA, mas não deu certo. “Saiu uma letra… muito clichê, sabe?”, conta ele ao Pop Fantasma.
Desde o mês passado, os fãs da banda encontram nas plataformas Globoplay e Canal Bis o novo audiovisual da banda, Acústico em São Paulo. Para todos os efeitos, é um DVD, mas sem o formato físico – enfim, uma dessas mudanças do mundo da música que, lá por 1997 (ou nos anos 2000, quando o grupo estourou) ainda não existiam. Nos aplicativos de áudio, o álbum – que traz participações de vários amigos do grupo, como Adão Negro, Maneva, Vitor Kley, Falamansa, Atitude 67 e Roberta Campos – foi dividido em cinco EPs, cada um deles fazendo referência no título a um lugar de São Paulo.
Batemos um papo com Marcelo Mira sobre o novo Acústico, os hits da banda, e sobre como está sendo lidar com plataformas digitais (e seus pagamentos pulverizados), álbuns divididos em pedaços, reggae no Brasil em 2025, e outros assuntos.
Texto e entrevista: Ricardo Schott – Foto: Marcos Hermes/Divulgação
Como foi gravar com a Roberta Campos em Rouxinóis (single do EP Paraíso, que faz parte do Acústico São Paulo) e como anda a receptividade à gravação com ela? A gente já tem uma história com a Roberta: o Pit de Souza, o nosso baixista, tocou uma turnê com ela, foi da banda dela. A gente acompanhava a carreira dela um pouco. A gente tava gravando uma faixa, e o Renatinho, que produziu ela também, falou que a Roberta gostava muito da gente. Falei para ele: “pô, então faz uma ponte para ver se a gente grava algo juntos”, e deu certo.
Essa música, a gente já tinha gravado em 2023, e ela andou sozinha. Nem fizemos um clipe e ela estava com 500 mil plays no Spotify. Quando fomos gravar o DVD e chamamos a Roberta, lembramos da música. É a cara dela, porque é um reggae meio MPB.
Como é que tá sendo lançar o disco em várias partes? Porque são vários EPs formando um álbum…. É uma forma nova de lançar discos, e uma forma que a gente tem de manter a atenção do público no trabalho, gerar uma expectativa. Porque são 31 faixas o trabalho, né? Se a gente lança tudo de uma vez, a gente fica ali sem novidades… Então escolhemos fazer seis EPs, e cada EP ganhou um nome de um local de São Paulo que tem um nome bacana. Tipo Harmonia, que é uma rua na Vila Madalena, Luz, né, que é a Estação da Luz, Liberdade…
Começamos a brincar com isso: lançar aos poucos, dar mais destaque aos convidados especiais. É uma forma nova de trabalhar porque a gente alimenta as redes e os fãs com novidades. Acaba sendo até mais divertido, porque você reparte os trabalhos, cada um ganha uma capa, um nome, um conceito. É uma forma de manter a atenção da galera.
Pra vocês, que vêm dos anos 1990/2000, como tá sendo se deparar com algoritmos, plataformas, aplicativos de música? Cara, a gente só não pegou o vinil, né? A gente pegou a fita demo, a gente pegou o CD, a gente pegou o MP3, pirataria, streaming… E agora a gente tá pegando a era dos artistas influenciadores: o artista não pode ser só cantor, agora ele tem que ser influenciador também. A internet causou uma grande revolução no planeta e as coisas começaram a andar muito rápido, é a nova revolução industrial.
E agora tem a IA também, bandas feitas por IA… Como vocês veem isso? Bom, eu já ouvi muita coisa feita por IA e eu vejo que ainda falta ali a emoção, a profundidade, aquela coisa que o ser humano sabe dar, principalmente na parte da composição. Que veio para competir, veio. Isso é um fato. Mas vai ser muito difícil substituir. Ainda mais para o tipo de música que a gente faz, que é uma música que a gente faz com alma, em que a gente se preocupa com letra, com melodia, com harmonia, com emoção, com sentimento.
Pra quem faz música descartável pode facilitar, porque aí a música é apenas uma plataforma pra pessoa poder desenvolver outros lados da carreira. Aí pode ser que a IA seja um problema. Eu ainda não estou preocupado. A composição humana, para quem gosta mesmo de música, ainda tá ganhando!
Mas você já tentou compor algo usando IA? Tentei fazer uma letra: joguei alguns temas ali e pedi pra fazer uma música no estilo do Alma Djem, que viesse na linguagem da banda. Saiu alguma coisa mas… muito clichê, sabe? Uma coisa muito simplória, que acaba não convencendo. Acho que falta uma maldade ali, entre aspas. Uma pimenta humana que a gente tem. Acho que vai demorar um pouco pra eles pegarem isso aí.
Voltando ao disco novo, o que significa um feat, uma participação pro Alma Djem? Como é que vocês escolheram os nomes? Nesse álbum, foi um pouquinho diferente. A gente começou a convidar algumas pessoas que já eram do nosso convívio, que sabíamos que topariam com certeza. A partir do momento que começamos a divulgar a participação dessas pessoas no show de gravação, alguns outros amigos foram meio que se convidando também. De repente começou: “pô, e eu, não vou ser convidado não?” (risos)
Então, acabou que a gente estava ali pensando em quatro, cinco participações e a gente fechou em onze. E são onze participações super ecléticas. Pegamos a galera do reggae: Manevo, Maskavo, Chimarruts. Mas também tem o Atitude 67, que são amigos nossos de longa data. E a própria Roberta Campos. Pegamos o Fabio Brazza, que vem do rap, o Felipe Toca, que é uma revelação aí da música popular brasileira. Mesclamos com várias tribos: já queríamos dialogar, sair um pouco dessa bolha do reggae.
Bem legal a participação do Adão Negro, por sinal… Sensacional. A gente tem uma história muito bacana com eles. No começo de carreira do Alma Djem, quando a gente mudou pra São Paulo, o Adão Negro recebeu a gente na Bahia de braços abertos. Fomos fazer um show lá na Bahia junto com o Charlie Brown Jr. E o Adão Negro recebeu a gente muito bem. Era véspera de Carnaval e eles estavam no palco Transamérica, com o Trio Elétrico. Acabou que eu fiquei pro Carnaval, cantei no Trio Elétrico deles duas vezes, cantei nesse palco Transamérica duas vezes, fiz um show com eles lá na Praia de Buraquinho, lá em Vilas do Atlântico (risos).
Fortalecemos uma amizade muito forte. Quando a gente foi pensar também nos nomes pro DVD, queríamos também pessoas que representassem o Nordeste. Na hora, pensamos no Adão. Liguei pro Serginho, que é o vocalista, perguntei se ele toparia, e ele ficou muito feliz, até porque a gente escolheu Minha voz, que é um dos maiores hits do Alma Djem. É uma das músicas que a galera mais conhece, que mais tocaram no rádio. E que tem tudo a ver com o que o Adão prega na Bahia: tolerância, igualdade racial… porque é uma letra também de protesto, de conscientização social.
Vocês regravaram A cera, do Surto, e você disse que a banda tinha uma relação com o Regis Bolo (vocalista). Me fala um pouquinho disso. O Bolo é da nossa geração, é um cara sensacional, muito generoso, né? Na época que o Alma Djem ainda morava em Brasília, ele estava sempre por lá – não sei se ele tinha família, mas ele estava sempre em Brasília. Então, a gente chegou a fazer algumas coisas junto, participação em show. Ele sempre tratou o Alma Djem muito bem. Já tinha explodido com A cera, já tinha tocado em Rock in Rio e tudo mais, mas ele sempre foi um cara muito generoso com o Alma Djem e sempre curtiu muito o nosso som.
Com o tempo, perdemos um pouco o contato, aí teve o falecimento precoce dele… (Regis morreu em 24 de abril de 2023, aos 52 anos). Resolvemos fazer uma homenagem. A cera é um grande hit dos anos 90, 2000, da nossa época, da nossa geração, e a gente resolveu trazê-la novamente à tona para a molecada que está vindo aí poder ouvir também. E era uma música que era rock, mas também era reggae. Tinha essa pegada no original, uma pegada que o Alma Djem também usa, daí veio muito tranquila. E tinha o papo da época, as gírias, que era o que a gente usava também.
E, bom, a gente está falando aí dos anos 90, que foi uma época muito fervilhante para o reggae aqui no Brasil. De repente apareceram várias bandas, muitas fizeram sucesso e tudo mais. O que que melhorou e piorou de lá para cá? O reggae brasileiro está passando por um processo de amadurecimento muito legal. As bandas estão muito mais unidas, estão muito mais abertas, há parcerias. Antigamente, o reggae era um nicho muito fechado, e hoje ele se mistura com vários estilos. Esse DVD nosso é uma prova disso, né?
Eu acho que só o que está faltando para o reggae hoje é a gente criar um movimento onde a nova geração também queira estar formando bandas, cantando reggae. As bandas mais velhas continuam na ativa: Alma Djem, Maneva, Planta e Raiz, Maskavo, Chimarruts, está todo mundo na atividade. Tribo de Jah, Edson Gomes, o Cidade Negra voltou agora… O mais interessante é que venha aí uma nova geração, até para que o reggae volte à cena novamente, como foi ali nos anos 2000. Tinha uma cena maravilhosa, foi até maior que os anos 1990 se você pensar.
Você curte estilos como trap, que estão na moda hoje? Cara, eu vejo algumas coisas interessantes, mas assim… não é uma coisa que eu ouço no meu dia a dia, né? Mas por curiosidade, a gente está sempre pesquisando aqui uma coisa aqui, outra ali. Eu vejo também um amadurecimento dessa galera, né? Nas letras, na postura, na atitude, etc. Até porque o trap, querendo ou não, ele está ali hoje junto com a tribo do rap, do hip hop – e o hip hop traz para o trap também um pouco do discurso, um pouco da consistência do movimento, dos assuntos, da forma de abordar, da forma de se posicionar socialmente, etc. Vejo com bons olhos um amadurecimento dessa galera mais jovem. Eu vejo que eles estão mais antenados em fazer um trabalho mais consistente. Eles já viram que se fizerem uma coisa mais consistente, conseguem que a música deles dure mais, que não seja aquela coisa descartável.
Queria que você falasse um pouquinho do seu projeto social, o Chama João. É um projeto que a gente começou lá atrás. João, na verdade, é uma música do Alma Djem, que ganhou um clipe na MTV lá por 2004, 2005. É uma música que fala sobre um menino que nasce na favela, e consegue vencer através da mentalidade, da cabeça dele, da inteligência, mas acaba sendo parado ali, assassinado pelo estado, porque começa a incomodar demais. Vira um grande líder e acaba sendo assassinado no final.
O clipe dessa música chegou ao top 10 no Disk MTV – é um clipe em stop motion, que mostra toda a história dessa música. Criamos o projeto a partir dessa música: começamos a ir nas escolas e levamos um pouco das nossas músicas de pegada mais social para a criançada analisar, junto com os professores. E depois a gente acabava se apresentando nas escolas para eles, batendo um papo. Escolhíamos um dia, e era uma grande festa – ao mesmo tempo, uma grande conscientização.
Agora estamos tentando um patrocínio ou algum apoio para que a gente consiga girar mais com ele. No começo, era um projeto que a gente tirava do próprio bolso para fazer. A ideia é gerar essa conscientização desde cedo. A música tem uma importância muito grande na formação do ser humano, da criança, do adolescente. Ela penetra na mente das pessoas sem resistência, a criança ouve e assimila.
Vocês já inspiraram alguém para começar a escrever ou compor? A gente recebe muita mensagem, principalmente nas redes sociais, de uma molecada que vem sempre falando. Tem muito artista novo que segue a gente. Nossa composição é referência para eles, sim, mas não teria uma música específica que eu poderia te falar, tipo “essa aqui foi inspirada na gente”.
Esse disco vai ser lançado também em formato físico? Porque tem essa questão do DVD – era uma mídia popular há alguns anos e hoje tudo fica no digital, no YouTube, nas plataformas em geral… Como é que isso está sendo pensado? Estamos muito focado em difundir nas plataformas e no YouTube. Pode ser que ganhe algo físico mais pra frente – uma compilação dessas 31 músicas porque as 31 com certeza não caberão, né? Mas pode ser que ganhe um vinil ali, uma edição de vinil…
Só que a coisa do visual não tem muito. As pessoas nem tem mais onde assistir! A gente ainda fala DVD porque é pra galera se ligar que é um projeto audiovisual, que foi gravado num formato dos antigos DVDs. Aquela coisa de filmar o show e fazer uma coisa com qualidade. Hoje a gente não tem como vender isso, temos que colocar no YouTube. Virou um cartão de visita da banda. Com os nossos vídeos, as pessoas vão lá pra entender como é que a banda funciona, como é que são as coisas ali.
Mas não temos como nos remunerar disso de alguma maneira. De repente pode ser pelo próprio YouTube ali, mas não tem essa coisa da venda. É uma pena, porque era um produto físico que as pessoas tinham apego, colecionavam. E, ao mesmo tempo, era uma fonte de renda pra nós – e uma fonte de renda que foi perdida. Não tem nem como substituir isso agora. Você investe muito alto no DVD e sobe no YouTube para que as pessoas conheçam, e isso possa ser revertido em show.
Acaba tendo algum retorno de qualquer jeito, mas, realmente, é muita novidade pra se acostumar de uma hora pra outra… A gente perdeu muitas fontes de renda. Você não tem mais o CD ou o DVD, que você poderia vender. Você sobe na plataforma digital, mas o pagamento tá muito aquém, vem muito pulverizado. Hoje em dia, todo mundo coloca música nas plataformas. Então, acaba que os valores são pulverizados demais. A gente coloca no YouTube e… a mesma coisa, você tem que ter bilhões e milhões de plays pra você começar a ver um dinheiro realmente que vale a pena. Então, o artista ficou muito dependente do show, e de algumas associações. Tem as experiências com fãs, merchandising – a gente ainda vende, camisetas, casacos, nos shows e na internet. É ir se adaptando, não tem muito pra onde correr.