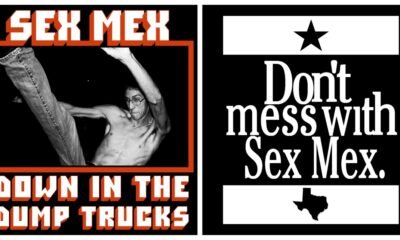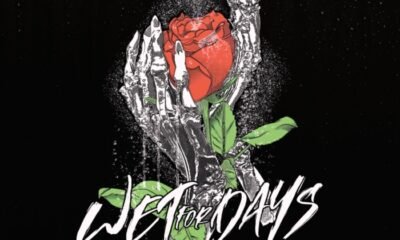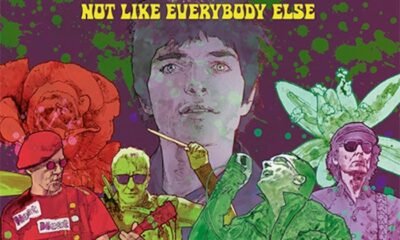Cultura Pop
Entrevista: Frank Secich fala sobre a pouco lembrada (e ótima) carreira solo de Stiv Bators

Para quem é fã do punk rock clássico, aquele que fez história nos EUA e na Inglaterra do fim dos anos 1970, Stiv Bators é um nome conhecido e celebrado. Vocalista dos Dead Boys, Bators tornou-se conhecido pelas performances viscerais e selvagens que fazia, em muito inspirado por seu ídolo Iggy Pop.
Gimme danger little stranger
Duas histórias notáveis, inclusive, tornaram-se emblemáticas em sua adoração por Iggy Pop. Na primeira delas, Stiv disse aos quatro cantos que foi ele o responsável por entregar o pote de manteiga de amendoim com o qual o Iguana se besuntou e andou heroicamente sobre (literalmente) a platéia no Cincinatti Pop Festival de 1970, algo considerado como pura lenda por seus amigos.
A segunda foi em um jantar em Cleveland em 1977, quando os Dead Boys abriram para o ex-stooge como parte da turnê de seu primeiro álbum. Nervoso por conhecer seu ídolo, Bators ingeriu alguns Quaaludes, como era conhecido o fármaco metaqualona, que fora criado para combater a insônia, mas servia para deixar o pessoal mais, digamos, ousado. Chapadaço da substância, Bators não segurou a bronca e caiu de cara em seu prato de sopa justamente quando jantava com seu herói, em história retratada no já clássico livro Mate-me por favor.

David Quinton Steinberg, Stiv Bators, George Cabaniss e Frank Secich gravando o álbum Disconnected em agosto de 1980 no Perspective Studios, em Sun Valley, Califórnia. Foto de Theresa Kereakes.
Jovem, barulhento e arrogante
Com o grupo, Stiv Bators lançou dois álbuns. O cultuadíssimo Young, loud and snotty (1977), uma das pedras fundamentais do punk americano, e o segundo disco do grupo, We have come for your children (1978), álbum de menor impacto que seu antecessor mas também repleto de petardos enfurecidos da banda de Cleveland, ainda hoje apontada como uma das mais selvagens da sua geração.
>>> Veja também no POP FANTASMA: Stiv Bators: o “outro nome” do punk em documentário
A selvageria vista no palco não era mera encenação. Na época de Dead Boys, Stiv teve um romance com a famosa groupie Bebe Buell, que já havia namorado músicos como Todd Rundgren, Rod Steward e Steven Tyler, do Aerosmith, com quem teve a filha Liv Tyler. Buell, inclusive, relembrou a relação com Stiv em um texto para o site Please Kill Me, de Legs McNeil, autor do já citado livro de mesmo nome. Ao longo de sua curta e intensa vida, o vocalista usou e abusou das drogas e fez parte da hoje famosa turma festeira que frequentava o CBGB e a boemia do Bowery na Nova York do fim dos anos 70.
Com o fim dos Dead Boys, Bators decidiu se reinventar como um cantor de power pop, fechando um contrato com a gravadora Bomp! e se mudando para Los Angeles. Foi dessas sessões que surgiu o álbum Disconnected (1980), apontado como uma obra-prima pouco explorada desse vocalista também pouco celebrado em comparação com alguns de seus contemporâneos e amigos de cena.

Os músicos de It’s cold outside: Eddy best, Rickbremmer, Stiv Bators e Frank Secich em Los Angeles, abril de 1979. Foto de Donna Santisi.
Do punk rock ao power pop
Para compor o álbum, Bators recrutou o baixista Frank Secich, seu amigo de longa data e conterrâneo de Ohio, estado natal do vocalista, também conhecido por ter sido o baixista da banda de power pop Blue Ash, que chegou a abrir shows para Stooges, Aerosmith, Bob Seger e Ted Nugent, alcançando relativo sucesso no underground americano de meados dos anos 70.
Juntos, Bators e Secich compuseram um punhado de excelentes canções power pop, entremeadas a versões de The Electric Prunes (I had too much to dream) e The Choir (It’s cold outside, que só constou no relançamento do disco de 1987), denotando a paixão de ambos pelos grupos garage dos anos 1960. Uma curiosidade é que boa parte do álbum foi gravado em uma quadra de basquete que ficava ao lado do estúdio, já que, segundo Secich, o espaço oferecia uma sonoridade mais “viva”.

Michael Monroe (Hanoi Rocks), Stiv Bators (Dead Boys) e Lemmy (Motörhead)
Outra curiosidade é que Disconnected foi coproduzido por Stiv Bators e Thom Wilson, marcando seu primeiro trabalho na função. Mais tarde, Wilson tornaria-se conhecido por produzir discos clássicos do punk americano como o homônimo dos Adolescents, de 1981, Mommy’s little monster (1983), álbum de estreia do Social Distortion, e os três primeiros discos do Offspring, entre uma longa lista que inclui ainda Bad Religion, Dead Kennedys, Iggy Pop e T.S.O.L., pra ficar só em alguns.
Mas, de volta a Disconnected, o álbum não chegou a ter uma verdadeira turnê de divulgação, e nem atraiu grande atenção da mídia no período. Seu reconhecimento veio com as décadas, em especial de fãs dos Dead Boys e do Lords Of The New Church, banda que Bators formou com Brian James, ex-guitarrista do Damned, em 1980, quando saiu de Los Angeles direto para Londres, onde antes formou o grupo de curta vida The Wanderers, com ex-integrantes do Sham 69.
Senhores da Nova Igreja e morte em Paris
Com o supergrupo gótico, que incluía ainda o ex-baixista do mesmo Sham 69 e o ex-baterista dos The Barracudas, Stiv conheceu o sucesso que tanto buscava. Sua história foi inclusive contada em um recente documentário, do qual já falamos aqui.
A posterior dissolução dos Lords of the New Church, seus outros projetos musicais (incluindo uma curiosa banda com Johnny Thunders dos New York Dolls e Dee Dee Ramone, que terminou em briga motivada pelo vício em droga dos dois), e sua trágica morte após ser atropelado em Paris, onde residia com a namorada em 1990, são parte da mística que envolve o vocalista, morto aos 40 anos e ainda festejado como um dos mais autênticos e simbólicos de sua geração.
Reconectando Stiv Bators: entrevista com Frank Secich
Mais de quarenta anos depois de seu lançamento, Disconnected segue como uma daquelas pérolas que os fãs do vocalista exaltam, mas que não chegaram a ultrapassar a barreira do underground, apesar do evidente potencial pop que dispunha.
Para saber mais sobre a concepção e gravação do disco, conversamos via e-mail com Frank Secich. Escute o disco e confere o papo aí embaixo:
Como você conheceu Stiv Bators, e como a ideia de tocar em seu disco solo surgiu?
Conheci Stiv em uma casa de hippies na faculdade de Youngstown, Ohio, em 1967. Nós viramos amigos rapidamente. Costumávamos ir às boates e casas de shows para adolescentes de Youngstown, como o Carouseel Teen Clubs, o Freak Out, o Champion Rollarena, o Bug Out e outros onde vimos bandas como The Human Beinz, Pied Pipers, James Gang, New Hudson Existe e The Holes In The Road. As primeiras bandas de Stiv, como Steve Bator Band e Mother Goose frequentemente abriam para minha banda Blue Ash no começo dos anos 1970.
Depois que os Dead Boys acabaram em 1978 após gravarem seu segundo álbum, Stiv queria fazer algo diferente. Em outubro de 1978, começamos a compor canções juntos. Em novembro daquele ano, nós (Stiv, Jimmy Zero, Johnny Blitz [todos membros do Dead Boys] e eu) fizemos demos de The last year, It’s cold outside e It’s alright no estúdio After Dark, em Cleveland. Stiv então acompanhou sua namorada da época, Cynthia Ross, em uma viagem para Los Angeles, onde tocou as demos para Greg Shaw (dono da gravadora Bomp!), que ficou de queixo caído com as músicas. Alguns meses depois, Greg ofereceu um contrato para mim e Stiv.

O single alemão de It’s cold outside da Line Records, de 1979
Vocês escreveram ótimas canções juntos. Como foi este processo?
Nós fazíamos de diferentes maneiras. Para The last year, Stiv tinha o título, o começo da melodia e o refrão. Eu o ajudei a terminá-la e compus a ponte. Nós dois escrevemos as letras. Not that way anymore e Circumstantial evidence eram basicamente canções minhas nas quais Stiv ajudou com as letras. Em I wanna forget you (just the way you are), Stiv surgiu com o título e escreveu a maior parte da letra, e eu escrevi a música e a melodia, e foi igual com Ready anytime. Nós sempre fazíamos diferente, mas Stiv era mais um compositor de letras e eu era mais alguém da melodia, apesar de ambos sabermos fazer as duas coisas. Uma das melhores canções do LP é Bad luck charm, que foi composta por David Quinton Steinberg e George Cabannis.
Tem uma história ótima por trás dessa música. Antes de gravar o álbum nós estávamos fazendo uma turnê naquele verão, e, em Nova York, Johnny Thunders se juntou conosco no palco do Heat Club. Thunders tinha um colar com o que parecia ser a pata de um alce pendurado. No camarim, David e George vieram até mim e disseram: “O que é aquilo no pescoço do Johnny?”. Eu disse: “É seu amuleto de má sorte! Vocês deviam compor uma música sobre isso”. Eles então a fizeram e é uma excelente música. Isso era um pouco do nosso processo criativo!
E como foi o processo de gravação do Disconnected? O álbum segue sendo cultuado por seus fãs e entusiastas de power pop em geral.
Nós nos divertimos muito gravando Disconnected no estúdio Perspective em Sun Valley, na Califórnia, no fim de agosto e começo de setembro de 1980. Greg Shaw da Bomp! Records nos deu liberdade para gravar o álbum e eu o amei por aquilo. O disco foi gravado em uma quadra de basquete que era adjacente ao estúdio. O piso de madeira tinha um som extremamente “vivo”, então fizemos a maior parte das canções ali. Funcionou especialmente bem para músicas como Evil boy, Make up your mind e Bad luck charm.

A foto da contracapa de Disconnected, de 1980. Fotos de Theresa Kereakes.
Nós fizemos um monte de experimentos e gravamos bastante de forma improvisada. Às vezes funcionava bem, como quando Cynthia Ross e as fabulosas B-Girls do Canadá vieram à cidade para colocar harmonias e palmas em Swinging a go-go, e no som de explosão de Too much to dream, quando Stiv e eu derrubamos um amplificador Fender Twin Reverb (alugado, é claro) de uma escada e gravamos.
Quando estávamos gravando Ready anytime, Stiv não estava conseguindo alcançar o vocal que queria. Ele disse que tinha que ir até Hollywood para se inspirar. Nós fizemos os overdubs até ele voltar quatro horas depois muito bêbado com uma garota. Ele então foi até a cabine do microfone e começou a gravar enquanto ela “performava” nele na nossa frente. E usamos aquela gravação.
Às vezes não funcionava. Para culminar com o verdadeiro clímax do álbum, eu queria um final do tipo Abertura de 1812 (de Tchaikovsky) para I wanna forget you (Just the way you are) – grande, bombástico e que se destacasse. Era para ser uma canhonada de áudio das Guerras Napoleônicas! Nós pedimos a nosso amigo Kent Smythe que trouxesse centenas de fogos de artifício. Colocamos microfones estrategicamente posicionados em volta deles e o produtor Thom Wilson começou a rodar a fita enquanto eu e Stiv os acendemos, no que foi uma falha de cálculo da nossa parte.
Enquanto os fogos queimavam para fora, o estúdio rapidamente ficou cheio de fumaça. No meio de todas as explosões, Stiv e eu não conseguiamos enxergar ou respirar. Estávamos nos sufocando e tossindo e tivemos que literalmente nos arrastar até o lado de fora do estúdio para sobreviver enquanto David, George, Thom Wilson e Kent estavam caindo no chão de tanto rir. Nós passamos o resto da sessão tirando a fumaça do estúdio. Quando tocamos para ver, soava uma bosta, e não conseguimos usar. A famosa fotógrafa de rock Theresa Kereakes estava lá o tempo todo e registrou muito daquela insanidade para a posteridade.
Stiv falava com orgulho dos Dead Boys?
Sim, ele tinha muito orgulho de ter sido um Dead Boy, e com razão. Eles foram uma banda lendária e absolutamente fantástica ao vivo e a cores. A fusão de guitarras de Cheetah (Chrome) e Jimmy Zero era muito legal, e eles eram ótimos compositores, e Johnny Blitz era um incrível baterista que sabia conduzir o som. Stiv tinha uma presença marcante e carismática. Eles eram originais e únicos, e é por isso que seguem sendo lendários até hoje. Eu tive a felicidade de ser parte disso por um tempo (Secich realizou uma turnê com os Dead Boys por um curto período, quando substituiu o baixista Jeff Magnum).

Frank Secich e Stiv Bators na festa de Kim Fowley para a banda Orchids, em 1979. Foto de Lisa Secich.
Nós ouvimos histórias de como Stiv era um “verdadeiro rock star” e um punk rocker selvagem. Ele era assim o tempo todo?
Stiv era um cara bem tranquilo, como Clark Kent, quando não estava no palco. Ele era sempre muito gentil com os fãs e sempre tinha tempo para dar autógrafos e posar para fotos, ou só para bater papo. No palco, ele era um performer consumado e um verdadeiro homem selvagem! Você nunca sabia o que esperar de um show para outro. Nunca havia tédio.
Vocês mantiveram contato ao longo dos anos? Como soube da morte dele?
Nós mantivemos contato durante os anos 1980 até sua morte. Ele me mandava cartões postais hilários e cartas de todos os cantos do mundo quando estava em turnê com os Lords of the New Church. Logo depois que Stiv morreu, eu recebi um telefone de um amigo em comum, Bobby Brabant. Ele disse: “Frank, eu tenho péssimas notícias”. Eu soube pelo tom em sua voz. Eu perguntei: “Como ele morreu?”. Foi um dia muito triste.
Você acha que Stiv teria seguido um caminho musical diferente se estivesse vivo?
Eu tenho certeza que ele seguiria trilhando caminhos e sendo criativo. Ele possivelmente teria feito mais filmes. Ele era um vocalista muito bom e conseguia sempre se expressar bem. Estava sempre três passos à frente do seu tempo e sabia o que fazia. Ele conseguia se reinventar em qualquer cena musical. Ele teria amado a internet e todas as suas possibilidades.
>>>Foto do abre da matéria: a banda que gravou Disconnected com Stiv Bators em agosto de 1980. David Quinton Steinberg, George Cabaniss, Frank Secich e Stiv Bators. Foto de Theresa Kereakes.
>>> Apoia a gente aí: catarse.me/popfantasma

Stiv Bators em 1979
Cultura Pop
No nosso podcast, os erros e acertos dos Foo Fighters

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No terceiro e último episódio, o papo é o começo dos Foo Fighters, e o pedaço de história que vai de Foo Fighters (1995, o primeiro disco) até There’s nothing left to lose (o terceirão, de 1999), esticando um pouco até a chegada de Dave Grohl e seus cometas no ano 2000.
Uma história e tanto: você vai conferir a metamorfose de Grohl – de baterista do Nirvana a rockstar e líder de banda -, o entra e sai de integrantes, os grandes acertos e as monumentais cagadas cometidas por uma das maiores bandas da história do rock. Bora conferir mais essa?
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: encarte do álbum Foo Fighters). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
(a parte do FF no ano 2000 foi feita com base na pesquisa feita pelo jornalista Renan Guerra, e publicada originalmente por ele neste link)
Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.
Mais Pop Fantasma Documento aqui.
Cultura Pop
No nosso podcast, Alanis Morissette da pré-história a “Jagged little pill”

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No segundo e penúltimo episódio desse ano, o papo é um dos maiores sucessos dos anos 1990. Sucesso, aliás, é pouco: há uns 30 anos, pra onde quer que você fosse, jamais escaparia de Alanis Morissette e do seu extremamente popular terceiro disco, Jagged little pill (1995).
Peraí, “terceiro” disco? Sim, porque Jagged era só o segundo ato da carreira de Alanis Morissette. E ainda havia uma pré-história dela, em seu país de origem, o Canadá – em que ela fazia um som beeeem diferente do que a consagrou. Bora conferir essa história?
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: Capa de Jagged little pill). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.
Mais Pop Fantasma Documento aqui.
Cultura Pop
No nosso podcast, Radiohead do começo até “OK computer”

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. Para abrir essa pequena série, escolhemos falar de uma banda que definiu muita coisa nos anos 1990 – aliás, pra uma turma enorme, uma banda que definiu tudo na década. Enfim, de técnicas de gravação a relacionamento com o mercado, nada foi o mesmo depois que o Radiohead apareceu.
E hoje a gente recorda tudo que andava rolando pelo caminho de Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien e Phil Selway, do comecinho do Radiohead até a era do definidor terceiro disco do quinteto, OK computer (1997).
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: reprodução internet). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.
Mais Pop Fantasma Documento aqui.