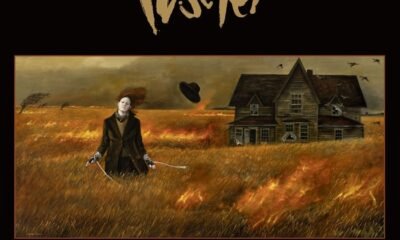Cultura Pop
Várias coisas que você já sabia sobre a primeira vez de David Bowie no Brasil

Em 1990, no Brasil, tinha muita coisa esquisita. Entre elas: inflação, um novo e polêmico presidente (Fernando Collor) que criou um plano econômico que ninguém entendia, falta de grana e apatia geral – nada muito diferente de 2020. Mas tinha também David Bowie.
Pela primeira vez, a bordo da turnê Sound + vision – que repassava sucessos antigos – o cantor vinha à América Latina, e faria quatro shows no Brasil. O primeiro deles na Praça da Apoteose (Rio), no dia 20 de setembro, mais dois no Allianz Parque (SP, por aqueles tempos conhecido como Palestra Itália) nos dias 22 e 23. E encerrando com uma apresentação para poucos e endinheirados fãs no Olympia, em São Paulo, com ingressos estupidamente caros (uma média de dez mil cruzeiros, que em dinheiro da época, dava uns bons 120 dólares, contra os 25 dólares dos shows norte-americanos).
Marcado pela inauguração da MTV Brasil, o ano de 1990 não foi nada pobre para os brasileiros em termos de apresentações internacionais. Eric Clapton veio para uma pequena turnê. Bandas como Yes e Jethro Tull também tocaram aqui. Os Stray Cats tocaram em São Paulo. Paul McCartney se tornou o primeiro ex-beatle tocar no país. Chegou a anunciar que apareceria de surpresa na casa de uma família qualquer para almoçar. Entrevistada sobre o assunto para O Globo, Dona Zica, viúva de Cartola, avisou que prepararia um vatapá para a visita ilustre se fosse a escolhida, mas não sabia quem era Paul.
A capital paulista recebeu um festival de blues no qual tocaram nomes como Koko Taylor, Bo Diddley e Magic Slim (que deu entrevista até para a Hebe Camargo). Teve mais: logo no começo do ano, o Hollywood Rock trouxe ninguém menos que Bob Dylan, além de Tears For Fears, Marillion, Bon Jovi, Eurythmics e o então popstar Terence Trent D’arby.
Não custa lembrar que a vinda de Bowie não parecia nada fora de contexto. Isso porque muita gente vinha sendo apresentada à sua música todos os dias no rádio por causa de O astronauta de mármore, versão do hit Starman feita pela banda gaúcha Nenhum de Nós. Apesar da conexão ótima entre artistas gringos e o circuito de shows brasileiro (mesmo em tempos de crise), Bowie, que vinha fazendo turnês bastante criticadas fora do Brasil, chegou aqui sob o fantasma do velho ditado “se veio ao Brasil, é porque está decadente”. Respondeu até perguntas sobre isso nas entrevistas que deu aos jornais brasileiros (“é triste que pensem isso de seu próprio país”, lamentou ao Estadão em 18 de setembro, um dia antes de desembarcar no Aeroporto do Galeão, no Rio).
E em homenagem aos trinta anos da primeira vez de David Bowie no Brasil, pega aí nosso relatório sobre o assunto.
TAVA INDO BEM. Assim como aconteceu com os colegas Lou Reed, Mick Jagger e Iggy Pop, David Bowie tinha se reinventado nos anos 1980. Let’s dance (1983) vendeu uma imagem mais moderna e new-wavizada do cantor e emplacou hits como a faixa-título e Modern love. A turnê Serious moonlight (1983) havia sido a mais bem sucedida de Bowie até então, com hordas de fãs comparecendo às apresentações.
NO CINEMA TAVA MAIS OU MENOS. Labirinto (1986), incursão do cantor no universo dos filmes de fantasia, teve direção do criador dos Muppets Jim Henson e produção executiva de George Lucas, emplacou um rosto perfeito e mais ou menos novo nas telonas (Jennifer Connely, uma ex-modelo infantil que antes fizera dois filmes mal sucedidos). E, mais que isso, apresentou Bowie para a criançada no papel do vilão Jareth. Foi bom para a imagem do camaleão, ainda que nem tenha sido um grande campeão de bilheteria (arrecadou pouco mais que a metade dos 25 milhões de dólares investidos).
SÓ QUE… A verdade é que as coisas estavam um pouco mais complicadas do que pareciam. O tal “rejuvenescimento artístico” era uma tarefa dura para Bowie, que gravou dois discos subsequentes, Tonight (1984) e Never let me down (1986) que crítica e público consideraram decepcionantes. Em 1988, inspirado por uma salada de art rock, hard rock e indie punk a la Pixies, Bowie montou o Tin Machine com o guitarrista Reeves Gabrels e a seção rítmica do disco Lust for life, de Iggy Pop (1977), os irmãos Tony (baixo) e Hunt Sales (bateria). O grupo gravou dois discos, não emplacou hits e teve muita gente boa achando que Bowie pagava o maior mico se aproveitando da recente onda de rock pesado de FM (Guns N Roses, etc).
ENCAIXOTANDO BOWIE. “Uma caixa de três CDs revisa a fase de ouro de David Bowie”, anunciava Carlos Albuquerque no Rio Fanzine, do Globo, em 3 de dezembro de 1989. Sound + vision, a caixa, era lançamento de Natal da recém-criada gravadora Rykodisc, introduzia Bowie no rol de artistas que revisavam sua obra com box sets (como Eric Clapton e Bruce Springsteen) e se utilizava do mais recente sonho de consumo da yupparada (o CD), acrescentando ao pacote também um hoje obsoleto CD-vídeo com gravações ao vivo de 1972. Vendeu horrores e foi o pontapé para o relançamento de toda a obra de Bowie na RCA e na Philips pela Rykodisc, em vinis com novo tratamento gráfico e CDs com faixas-bônus.
PRA MIM CHEGA. Bowie adorava um drama: em 1972, anunciou em pleno palco que o encerramento da turnê do disco The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars era “também o último que farei”, e pegou até seus músicos de surpresa. O lançamento da Ryko foi o pretexto para Bowie dar um tempo na turnê do Tin Machine e anunciar, em uma coletiva de imprensa em fevereiro de 1990, que faria uma turnê da caixa, tocando seus grandes hits dos anos 1970 “pela última vez”. “É hora de colocar cerca de 30 ou 40 músicas para dormir”, avisou, dizendo que fecharia um ciclo e entraria em nova fase. Caiu quem quis.
QUE TAL MAIS UM DISQUINHO? Além dos discos relançados, a nova tour também tinha mais uns produtinhos. A EMI lançava a coletânea Changesbowie, com faixas pinçadas de todo o catálogo do cantor, e o single Fame ’90, remix feito pelo DJ Jon Gass de Fame, parceria entre Bowie e John Lennon (e Carlos Alomar) lançada no disco Young americans, de 1975. Não conseguiu achar o compactinho? Sem problemas: a faixa foi incluída tanto na coletânea quanto na trilha da comédia romântica Uma linda mulher, com Julia Roberts.
LIGUE DJÁ. Correndo atrás dos fãs antigos (vários deles sentiam-se mais por fora do que umbigo de vedete por causa da fase Let’s dance do cantor, e de projetos como o Tin Machine), Bowie teve uma ideia: criou uma linha telefônica (1-900-2-BOWIE-90) para os admiradores ligarem e escolherem músicas para o set list. O dinheiro arrecadado com as ligações iria para instituições de caridade. Músicas como a recente Let’s dance e a antiga Changes foram lembradas nos EUA. Os fãs da Europa preferiram Fame e Heroes.
FANTASMA DO PASSADO. O semanário New Musical Express fez uma campanha sacana para David Bowie incluir uma de suas primeiras músicas, The laughing gnome, no set list. Era só zoação, já que Bowie sempre detestou essa música. Só que o cantor chegou a achar que a campanha fosse de verdade e quase pôs a canção no repertório.
SOM E VISÃO. No comecinho de 1990, Bowie começou a ensaiar com uma banda que incluía o baixista Erdal Kizilkay, o guitarrista Adrian Belew (com quem ele já tocara há anos), o baterista Michael Hodges e o tecladista Rick Fox. Édouard Lock, fundador do grupo de dança canadense La La La Human Steps, foi chamado para fazer a direção artística, e criou um sistema de projeções a partir de um telão transparente de doze por vinte metros que permitia que Bowie contracenasse com sua própria imagem.
QUE NEM ANTIGAMENTE. Para abalar os coraçõezinhos dos fãs da antiga, os shows da turnê começavam e terminavam da mesma forma que os da tour Ziggy Stardust. Abertura com a versão sintetizada da Nona Sinfonia de Beethoven, término com Rock n’ roll suicide.
CHEGOU! No dia 19 de setembro de 1990, às 5h55 da manhã, não tinha mais jeito: Bowie estava no Brasil, sob os auspícios da Poladian Produções. O cantor chegou com uma comitiva de 80 pessoas, foi recepcionado por poucos fãs (um deles o gaúcho Jefferson Guedes, com o rosto pintado como na capa do disco Aladdin Sane) e, numa coletiva no Hotel Rio Palace, contou que não tinha dormido direito, por causa de um voo turbulento que pegou entre Zurique (Suíça) e Rio.
COLETIVA. Quem estava lá, recorda que ele respondeu com bom humor até perguntas meio capciosas, como os questionamentos sobre as supostas saudações nazistas que fez em 1976 (“Tudo o que eu não sabia na época era que cocaína fazia mal”, disse). À tarde, durante mais uma sessão de papo, perguntou aos jornalistas se os Titãs, que abririam seu show, eram “um exemplo típico” do rock brasileiro.
TEM QUE DAR CERTO. Uma pergunta vinha à cabeça de todos os fãs naquele momento: Bowie, cantando antigos hits, teria condição de lotar estádios, como acontecera com Sting e Tina Turner anos antes? Seja como for, a produção se armou. O show do Rio seria gravado para exibição pela Rede Globo. Duas emissoras de rádio (uma de SP, uma do Rio) inventaram um “fone Bowie” idêntico ao que foi feito fora do país, para os fãs escolherem músicas (pediram hits recentes como Absolute beginners e outros). Só esqueceram de avisar aos ouvintes que o repertório já estava fechado havia meses.
O RIO NÃO MERECEU. O show de Bowie na Apoteose foi prejudicado por duas coisas: som ruim e público apático. Os Titãs, na abertura, estavam inaudíveis. Se alguém imaginou que as coisas melhorariam quando a atração principal subisse no palco, pode esquecer. O som continuou cagado, e a turba que estava acostumada apenas com os novos hits do cantor passava a maior parte do tempo dispersa. Bowie fez o que pôde: cantou, dançou, tentou interagir com a plateia e até pediu o boné rosa de uma fã, com o qual cantou Changes, Modern love, The Jean Genie e Gloria (Van Morrison).
ALIÁS E A PROPÓSITO. Starman foi aberta com um “acho que vocês conhecem essa em português”. Naquele mesmo ano, num papo com a Bizz, o Nenhum de Nós cravou: “Quando o Bowie vier ao Brasil, ele vai ser obrigado a tocar Starman“.
MAS E O TELÃO? Lembra do tal telão enooorme que ajudava David Bowie a contracenar com ele mesmo? Não teve no Brasil. Rolaram várias histórias a respeito desse telão: que tinha dado algum bug, que havia acontecido um acidente com ele no transporte, que a tela havia se rasgado. A verdade é que a tela custava US$ 25 mil dólares de aluguel por dia e ninguém estava rasgando dinheiro. A parte “vision” do show ficou por conta de duas telas bem menores, com as quais Bowie “interagia” (muito entre aspas) em alguns momentos.
EM SÃO PAULO. Todo mundo que foi a todas as apresentações conta que Bowie foi se soltando à medida que os shows foram se sucedendo. Em SP, no Palestra Itália, o público correspondeu mais e o cantor se soltou. O primeiro show, do dia 22, foi um pouco menor que o do Rio (18 canções, uma a menos) porque, ao que consta, Bowie tomou um choque do microfone. O do dia 23 teve até o cantor voltando aos tempos de mímico e fingindo que arrancava o próprio coração, para jogá-lo à plateia. Modern love foi substituída, nessa segunda apresentação, por White light/White heat, do Velvet Underground, para a surpresa dos antigos fãs.
SURPRESA. Os fãs que foram ao show do Olympia, por sua vez, viram Bowie completamente solto no palco. O cantor estendia os braços para os fãs, olhava nos olhos deles, perguntava os nomes do que estavam mais à frente e até recebia flores de alguns admiradores – que jogava de volta na plateia. O show, privilégio para poucos e abonados fãs (um deles foi a atriz Daryl Hannah, que estava por aqui filmando Brincando nos campos do Senhor, de Hector Babenco), foi tido pelo próprio cantor como o melhor da estadia no Brasil. Rita Lee o encontrou nos bastidores desse show, tirou uma foto com ele e o presenteou com um cristal.

NADA ALEGRE. Depois do Brasil, Sound + vision seguiria para Chile e Argentina e encerraria. E os estresses de Bowie também. Testemunhas dizem que o cantor não parecia nada feliz durante a turnê, talvez por estar revisitando seu próprio passado. Erdal Kizilkay, o baixista, lembra de broncas do cantor no grupo. O Melody Maker publicou que Bowie foi visto chorando no camarim do River Plate, na Argentina, após o último show.
E DEPOIS? Você sabia que a banda de David Bowie, Tin Machine, lançou um disco ao vivo? Pois é: Oy vey, baby saiu em 1992, foi gravado em cinco shows diferentes e é tido como o segundo pior fracasso do cantor (o primeiro foi sua estreia, de 1967). Muitos fãs do artista mal sabem que esse disco saiu. Bowie resolveu largar a ideia de ser mais uma da banda e voltou para a carreira solo. Antes, em 20 de abril de 1992, participou do tributo a Freddie Mercury no Wembley Stadium e reencontrou seu velho parceiro guitarrista Mick Ronson no palco. Um reencontro e tanto, já que Mick morreria em 1993.
E já que você chegou até aqui, pega aí o especial que a Globo levou ao ar com o show de David Bowie no Rio em 1990.
Aliás, aproveite e pegue aí as vezes em que David Bowie, por intermédio de O astronauta de mármore, virou forró e pagode.
Veja também no POP FANTASMA:
– Demos o mesmo tratamento a Physical graffiti (Led Zeppelin), a Substance (New Order), ao primeiro disco do Black Sabbath, a End of the century (Ramones), ao rooftop concert, dos Beatles, e a London calling (Clash). E a Fun house (Stooges). E a New York (Lou Reed).
– Demos uma mentidinha e oferecemos “coisas que você não sabe” ao falar de Rocket to Russia (Ramones) e Trompe le monde (Pixies).
– Mais David Bowie no POP FANTASMA aqui.
Cultura Pop
George Harrison em 2001: “O que é Eminem?”

RESUMO: Em 2001, George Harrison participou de chats no Yahoo e MSN para divulgar All Things Must Pass; com humor, respondeu fãs poucos meses antes de morrer – e desdenhou Eminem (rs)
Texto: Ricardo Schott – Foto: Reprodução YouTube
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
“Que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de fazer suas orações esta noite. Sejam boas almas. Muito amor! George!”. Essa recomendação foi feita por ninguém menos que o beatle George Harrison no dia 15 de fevereiro de 2001 – há 25 anos e alguns dias, portanto – ao participar de dois emocionantes chats (pelo Yahoo e pelo MSN).
O tal bate-papo, além de hoje em dia ser importante pelos motivos mais tristes (George morreria naquele mesmo ano, em 29 de novembro), foi uma raridade causada pelo relançamento remasterizado de seu álbum triplo All things must pass (1970), em janeiro de 2001. George estava cuidando pessoalmente da remasterização de todo seu catálogo e o disco, com capa colorida e fotos reimaginadas, além de um kit de imprensa eletrônico (novidade na época), era o carro-chefe de toda a história. O lançamento de um site do cantor, o allthingsmustpass.com, também era a parada do momento (hoje o endereço aponta para o georgeharrison.com).
Os dois bate-papos tiveram momentos, digamos assim, inesquecíveis. No do Yahoo, George fez questão de dizer que era sua primeira vez num computador: “Sou praticamente analfabeto 🙂 “, escreveu, com emoji e tudo. Ainda assim, um fã meio distraído quis saber se ele surfava muito na internet. “Não, eu nunca surfo. Não tenho a senha”, disse o paciente beatle. Um fã mais brincalhão quis saber das influências dos Rutles, banda-paródia dos Beatles que teve apoio do próprio Harrison, no som dele (“tirei todas as minhas influências deles!”) e outro perguntou sobre a indicação de Bob Dylan ao Oscar (sua Things have changed fazia parte da trilha de Garotos incríveis, de Curtis Hanson). “Acho que ele deveria ganhar TODOS os Oscars, todos os Tonys, todos os Grammys”, exultou.
A conta do Instagram @diariobeatle deu uma resumida no chat do Yahoo e lembrou que George contou sobre a origem dos gnomos da capa de All things must pass, além de associá-los a um certo quarteto de Liverpool. “Originalmente, quando tiramos a foto eu tinha esses gnomos bávaros antigos, que eu pensei em colocar ali tipo… John, Paul, George e Ringo”, disse. “Gnomos são muito populares na Europa. E esses gnomos foram feitos por volta de 1860”.
Ver essa foto no Instagram
A ironia estava em alta: George tambem disse que se começasse um movimento como o Live Aid ajudaria… Bob Geldof (!)., o criador do evento. Perguntado sobre se Paul McCartney ainda o irritava, contemporizou: “Não examine um amigo com uma lupa microscópica: você conhece seus defeitos. Então deixe suas fraquezas passarem. Provérbio vitoriano antigo”, disse. “Tenho certeza de que há coisas suficientes em mim que o irritam, mas acho que já crescemos o suficiente para perceber que nós dois somos muito fofos!”. Um / uma fã perguntou sobre o que ele achava da nominação de Eminem para o Grammy. “O que é Eminem?”, perguntou. “É uma marca de chocolates ou algo assim?”.
Bom, no papo do MSN um fã abusou da ingenuidade e perguntou se o próprio George era o webmaster de si próprio. “Eu não sou técnico. Mas conversei com o pessoal da Radical Media. Eles vieram à minha casa e instalaram os computadores. Os técnicos fizeram tudo e eu fiquei pensando em ideias. Eu não tinha noção do que era um site e ainda não entendo o conceito. Eu queria ver pessoas pequenas se cutucando com gravetos, tipo no Monty Python”, disse.
Pra ler tudo e matar as saudades do beatle (cuja saída de cena também faz 25 anos em 2026), só ir aqui.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.
Cultura Pop
No nosso podcast, os erros e acertos dos Foo Fighters

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No terceiro e último episódio, o papo é o começo dos Foo Fighters, e o pedaço de história que vai de Foo Fighters (1995, o primeiro disco) até There’s nothing left to lose (o terceirão, de 1999), esticando um pouco até a chegada de Dave Grohl e seus cometas no ano 2000.
Uma história e tanto: você vai conferir a metamorfose de Grohl – de baterista do Nirvana a rockstar e líder de banda -, o entra e sai de integrantes, os grandes acertos e as monumentais cagadas cometidas por uma das maiores bandas da história do rock. Bora conferir mais essa?
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: encarte do álbum Foo Fighters). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
(a parte do FF no ano 2000 foi feita com base na pesquisa feita pelo jornalista Renan Guerra, e publicada originalmente por ele neste link)
Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.
Mais Pop Fantasma Documento aqui.
Cultura Pop
No nosso podcast, Alanis Morissette da pré-história a “Jagged little pill”

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No segundo e penúltimo episódio desse ano, o papo é um dos maiores sucessos dos anos 1990. Sucesso, aliás, é pouco: há uns 30 anos, pra onde quer que você fosse, jamais escaparia de Alanis Morissette e do seu extremamente popular terceiro disco, Jagged little pill (1995).
Peraí, “terceiro” disco? Sim, porque Jagged era só o segundo ato da carreira de Alanis Morissette. E ainda havia uma pré-história dela, em seu país de origem, o Canadá – em que ela fazia um som beeeem diferente do que a consagrou. Bora conferir essa história?
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: Capa de Jagged little pill). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.
Mais Pop Fantasma Documento aqui.