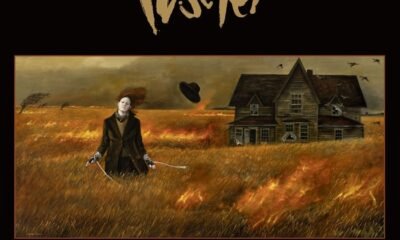Crítica
Ouvimos: George Harrison, “Living in the material world – 50th anniversary edition”

Ouvido hoje em dia, Living in the material world, quarto álbum de George Harrison (1973), eternamente considerado “álbum mais espiritualizado” do cantor, soa mais do que pé-no-chão. Se não fossem os problemas jurídicos e a onda de processos que rolaram entre os quatro Beatles, além da desestabilização pessoal e amorosa vivida por Harrison, talvez o autor de Something estaria envolvido em outros tipos de busca, talvez tivesse feito outro álbum, quem sabe sua inspiração apontasse para outros lados.
Principalmente, talvez ele não tivesse feito um disco (hoje remasterizado em edição comemorativa, supervisionada pelo filho e pela viúva do artista) que responde a todos os problemas que ele vivia na época. E que, de quebra, serve como resposta aos ex colegas de banda. A bela Give me love (Give me peace on Earth) soa como espelho dos protestos “pacifistas” de John Lennon e Yoko Ono. Mas a letra, com versos como “me mantenha livre deste fardo/me dê esperança/me ajude a lidar com essa carga pesada”, entrega que algo não ia bem com o cara que, em meio às batalhas judiciais dos Beatles – um contra o outro e todos conta o ex-empresário Allen Klein – cunhou a frase “se algum dia conseguirmos sair daqui”, que Paul McCartney ouviu e chupou para o hit Band on the run.
No dia a dia, George lidava com um casamento que ia terminando, com as tentações do capeta (cocaína, álcool e escapadinhas matrimoniais) e com as contradições entre a vida espiritualizada e o dia a dia de um rockstar poderosão. Também lidava do seu jeito com um fato básico: os anos 1960 já tinham acabado, ele já andava pelos trinta anos (parece pouco hoje, era a proximidade da velhice para roqueiros em 1973), e não adiantava fazer um disco que não vendesse e não tocasse no rádio. Depois da explosão roqueira e do vômito criativo de All things must pass (1970), George entregou-se à união de country, rock e blues, e a uma visão particular e messiânica do que seria o rock adulto-contemporâneo nos anos 1970.
- Apoie a gente e mantenha nosso trabalho (site, podcast e futuros projetos) funcionando diariamente.
- Beatles: qual é a das coletâneas “vermelha” e “azul” afinal?
- Tudo (ou quase tudo) sobre All things must pass, de George Harrison
Em Living, músicas como Give me love e Don’t let me wait too long estabeleceram um paradigma de rock violeiro, pop, belo e melancólico que ressoa até hoje. Sue me, sue you blues, zoação-de-sorriso-amarelo com a onda de processos envolvendo John, Paul, George e Ringo, não é exatamente um blues – lembra a onda folk que rolou na Inglaterra lá pelo começo dos anos 1970. The light that has lighted the world tem lá seus laços com a fase 1971/1972 dos Rolling Stones (a face mais acústica, de Wild horses) e com a mesma época na carreira de Neil Young – destaque para o piano de Nicky Hopkins e para a slide guitar do próprio Harrison, que aliás brilha em todo o álbum.
Uma curiosidade em Living é Who can see it, que não faria feio na voz de Paul McCartney – abre como uma balada de piano e ganha cordas que têm lá seus cruzamentos com The long and winding road. A faixa-título, por sua vez, é um rock com cara country e certo ar feroz, apesar da parte contemplativa lá da metade. A letra cita nominalmente dois de seus ex-colegas de banda (“John e Paul aqui no mundo real/embora nós tenhamos começado muito pobres/ficamos ricos numa turnê/e fomos pegos pelo mundo real”) e aparentemente só deixa Ringo de fora porque ele estava na banda de apoio do disco, tocando bateria ao lado de Jim Keltner.
O clima deprê-religioso de Living é reforçado pela melancolia de Be here now, pela esperançosa The day the world gets round (na qual a voz de Harrison parece que vai se despedaçar) e pela confusa Try some, buy some – é a mesma base da versão feita por Ronnie Spector em 1970, com a voz dela tendo sido apagada e substituída pela de George. Um quase momento de respiro é The lord loves the one (That loves the lord), um louvor dos mais esquisitos (“o senhor ajuda aqueles que ajudam a si próprios/e a lei diz que o que quer que você faça/retornará a você”), com uma melodia country-soul-rock marcada por piano Rhodes, metais, violão e bateria marcial.
O CD extra com takes de arquivo varia entre surpresas e coisas não lá tão legais, mas vale muito ouvir Sunshine life for me (Sail away Raymond), com George Harrison acompanhado por Ringo Starr e pela The Band que acompanhava Bob Dylan. O take 18 de Give me love traz só George acompanhando-se ao violão, e revela o quanto essa música reverberou nas tentativas de fazer pop-rock acústico, aqui no Brasil (de Raul Seixas e Rita Lee a Nando Reis, passando por Lulu Santos e Dalto, todo mundo se inspirou lá).
Nota: 9
Gravadora: Dark Horse Records/BMG
Crítica
Ouvimos: Automatic – “Is it now?”

RESENHA: Automatic mistura synthpop gelado e pós-punk dançante em Is it now?: muitas referências, mas identidade própria e letras de recusa ao padrão.
Texto: Ricardo Schott
Nota: 9
Gravadora: Stones Throw Records
Lançamento: 26 de setembro de 2025
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
Formado pelo trio Izzy Glaudini, Halle Saxon e Lola Dompé, o Automatic faz música como se criasse seu próprio som – ou como se usasse referências apenas na base do “eu achei legal, mas mudaria tudo”. Ouvindo Is it now?, é meio claro que bandas como Slits, Japan e Suicide foram ouvidas pelas três em algum momento (nesse papo na comunidade do reddit Indie Heads, Gary Numan foi igualmente citado), mas a colagem foi realizada de um jeito tão particular que dá para imaginar que se usassem IA, iam enlouquecer o sistema.
Vai daí que o synthpop estilingado e pontiagudo delas envolve pós-punk dançante e sustentado pelo baixo (Black box, Lazy, o beat eletrônico rudimental de Don’t wanna dance, o voo controlado de The prize), sons que lembram Ultravox, Talking Heads e o começo sombrio do Human League (PlayBoi, Smog summer, o eletropop alemão de Country song), coisas entre o pós-punk e a psicodelia (a flautinha de mq9, a vibe quase dub de Mercury). O teclado entra para dar uma onda “gelada” em meio ao clima bem pé-no-chão do baixo e da bateria, como se cumprisse a cota de climas mais viajantes no som. De bandas mais novas, dá para perceber algo linkado a Bravery e Arctic Monkeys na faixa-título, marcada também por vocais maquinados e onda meio krautrock.
Na letra de Is it now?, a faixa-título, dá para sentir que o Automatic propõe antes de tudo um manifesto estético – da mesma forma que Re-make / Re-model, do Roxy Music, propunha mudar tudo e enxergar beleza onde o movimento hippie poderia ver caretice ou sujeira. “Corte o cabelo com tesoura de cozinha / novo visual, uma imagem diferente / de segunda mão, não de televisão / shoppings, eles te tornam cruel”, avisam elas. Don’t wanna dance mostra que elas, de fato, não querem se parecer com todo mundo: “as luzes estão me cegando / eu não quero dançar, estou me escondendo / cada momento aqui me lembra que / eu não quero dançar”. Um “não é não” musical, de fino trato e em alto volume.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.
Crítica
Ouvimos: Carlos Dafé, Adrian Younge – “Carlos Dafé JID025”

RESENHA: Carlos Dafé e Adrian Younge unem soul e samba em JID025, disco setentista, orquestral e psicodélico que reencontra passado e presente.
Texto: Ricardo Schott
Nota: 9
Gravadora: Jazz Is Dead
Lançamento: 17 de outubro de 2025
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
Enxergando o soul e o balanço brasileiros como um precioso álbum de figurinhas, o norte-americano Adrian Younge vem fazendo uma série de lances especiais: vem por aí um álbum gravado ao lado de Antonio Carlos & Jocafi, e já saíram discos feitos com Hyldon e Dom Salvador, além de um solo cheio de convidados. E tem também JID025, gravado ao lado de Carlos Dafé, uma das melhores vozes da história da MPB, e um dos compositores mais hábeis no oscilar entre soul e samba.
JID025 parece um disco que Dafé adoraria ter lançado nos anos 1970: Amor enfeitiçado, logo na abertura, tem psicodelia nos acordes de guitarra, mudanças de tom e clima de abertura antiga de novela. E um pouco de paz, com recordações do som de Cassiano, lembra tema de filme policial. Bloco da harmonia tem metais e cordas vibrando junto com a percussão, além de lembranças do lado sambista de Dafé, compositor já gravado por Alcione e Nana Caymmi – embora a canção ganhe clima sombrio no fim. Jazz está morto une jazz, soul e grandiloquência herdada de Isaac Hayes e do Marvin Gave do disco What’s going on (1971). Cítara e harpa marcam o início de Verdadeiro sentimento, balada como as dos discos setentistas de Dafé.
Do começo ao fim, JID025 soa como um flashback turbinado e ácido, que também aponta para o Funkadelic em O baile funk vai rolar, e ganha ar voador em É real… é verdade, no samba orquestral Esse som é verdadeiro e na declamada Como entender o amor. Um reencontro entre passado e presente.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.
Crítica
Ouvimos: Period Bomb – “Cuntageous”

RESENHA: Period Bomb, de Camila Alvarez, retoma o riot grrrl com inclusão e barulho experimental. O EP Cuntageous mistura egg punk e críticas diretas ao machismo.
Texto: Ricardo Schott
Nota: 8
Gravadora: Crass Lips Records
Lançamento: 2 de dezembro de 2025
- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.
No Brasil ainda não tem muita gente comentando a respeito do Period Bomb – uma pena. Esse projeto estadunidense criado pela musicista Camila Alvarez reavivou o cenário riot grrrl em Los Angeles nos últimos 15 anos, e já lançou discos como Permanently wet (2020) e o EP 24-carat clit (literalmente, “clitóris de 24 quilates”, que saiu em janeiro do ano passado). Um dos trabalhos dela foi ajudar a incluir mulheres trans e mulheres negras que se sentiram excluídas das ondas riot grrl anteriores – como a própria Camila conta nessa entrevista.
- Ouvimos: Ratboys – Singin’ to an empty chair
Cuntageous, o EP mais recente do Period Bomb, não economiza em duas coisas: sons experimentais e dedo na cara de homens babacas. Em alguns momentos lembra Yoko Ono, em outros parece um som ligado também à onda egg punk, de teclados distorcidos e sujos. Cunty boy (“garoto cuzão”) tem vocais afinados, mas prontos para zoar e meter o malho – lado a lado com programação eletrônica e teclados. Parking ticket junta teclados maníacos e voz com vibe fantasmagórica de brincadeira. Birth of labubu zoa uma das manias de 2025 em clima sonoro que mistura Devo, Yoko Ono e Young Marble Giants.
O Period Bomb faz também samba latino experimental em espanhol, Porriquitico, lembrando Mutantes – e lembrando também o quanto o “não é não” é difícil no dia a dia. No final, os 40 segundos da vinheta-título, fazendo questão de explicar que a babaquice masculina é bastante contagiosa. E é.
- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.
- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.