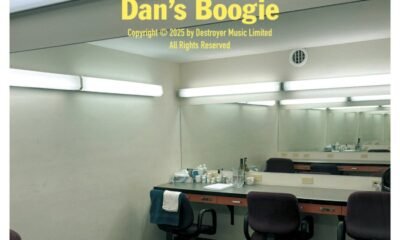Cultura Pop
15 fatos sobre “Destroyer”, clássico do Kiss

Antes de mais nada, pare tudo o que você está fazendo e escute o clássico “Destroyer”, do Kiss, que completa 41 anos hoje.
Agora pode prosseguir: lançado numa época de “ou vai ou racha” para a banda, “Destroyer” acabou ajudando a sedimentar o Kiss como um dos maiores grupos de rock do mundo. Até hoje é um dos melhores álbuns do quarteto mascarado, e suas músicas ocupam um bom tempo dos shows do Kiss – entre elas “Shout it out loud”, “Detroit rock city”, “Great expectations”. Nada disso teria sido possível sem que um sujeito chamado Bob Ezrin entrasse no estúdio, cuidasse das gravações, fizesse arranjos e metesse a mão de ferro no trabalho. Saiba um pouco sobre a quantas andava o Kiss na época desse clássico acompanhando os itens abaixo.
1) “Destroyer” saiu um ano após o primeiro super-hiper-ultra-uber sucesso do Kiss que foi o disco duplo “Alive!”, primeiro álbum da banda a conseguir disco de ouro. Ainda assim, a gravadora da banda, Casablanca Records – que por aqueles tempos começava a funcionar como uma fábrica de sucessos da disco music – andava insegura a respeito da banda, tanto que “Destroyer” foi o lance inicial de um contrato de apenas dois discos.
2) Os ensaios para a gravação de “Destroyer” começaram em agosto de 1975 e a primeira demo que a banda gravou para o álbum foi rejeitada por eles mesmos: era “Ain’t none of your business”, feita pelos compositores de country Becky Hobbs e Lew Anderson e sugerida pela gravadora. A sessão tinha o baterista Peter Criss no vocal. A música ficou de fora, mas seria gravada em 1977 no primeiro disco da banda de hard rock Detective.
https://www.youtube.com/watch?v=CvvhjQ2ZzTU
3) O produtor do disco foi Bob Ezrin, o cara que deu uma virada na carreira de Alice Cooper, em discos como “Love it to death” (1971) e “Billion dollar babies” (1973), e depois produziria “The wall”, do Pink Floyd (1979). Bob ficou um tanto chocado com a falta de técnica do Kiss e providenciou até lições de teoria musical para os quatro.
4) Bob também deu muito esporro na banda. Quando viu o linguarudo Gene Simmons largar o baixo durante a gravação do fim de uma música, deu um berro: “Não pare de tocar a não ser que eu ordene!”. Em sua autobiografia “Uma vida sem máscaras”, Paul Stanley detalhou o quanto padeceu: “Ele tinha o objetivo de mostrar quem mandava ali. Tratava a gente como se aquilo fosse um acampamento. E nos disse que não sabíamos nada, o que era verdade”.
5) Neil Bogart, chefão da Casablanca Records, tinha sido executivo da Buddah Records, selo que trabalhava bastante com a onda bubblegum (bandas como 1910 Fruitgum Company vieram de lá) e era do tipo de homem de gravadora que farejava sucesso de longe. Quando montou a empresa em 1973, o Kiss foi sua primeira contratação – e artistas da disco music, como Village People e Donna Summer, vieram em seguida para ampliar ainda mais o caixa da firma. Bogart morreu em 1982, quando estava longe da disco music, afastado da Casablanca e trabalhava com new wave na sua recém-criada gravadora Boardwalk Records (e apesar da homenagem ao clássico da tela “Casablanca”, Neil não era parente do protagonista Humphrey Bogart – se chamava Neil Scott Bogatz).

6) O dia a dia na Casablanca durante o sucesso do selo incluía muita cheiração, já que uma secretária anotava os pedidos de pó da equipe, consultava o dealer preferido do patrão e depois saía distribuindo a pacoteira. Se você achou tudo muito parecido com alguma cena que você já viu, a American Century Records da série “Vinyl”, da HBO, foi inspiradíssima na Casablanca.
7) O prédio da empresa era decorado com objetos que faziam referência justamente ao filme “Casablanca” – camelos empalhados, pôsteres de Humphrey Bogart, etc. O clima nos corredores e salas era de tanta doideira que certa vez um executivo, enquanto falava ao telefone, teve sua sala invadida por um sujeito que começou a destruir tudo que via pela frente com um taco de golfe e, não satisfeito com o estrago, pôs fogo numa pilha de papeis. “Fui reclamar com a secretária, mas ela estava fazendo carreiras de pó com um cartão de crédito e cheirando em cima da escrivaninha”, disse o executivo ao livro “Hit men”, de Fredric Dannen, sobre a ligação da indústria musical com a máfia (e esse trecho foi transcrito pelo jornalista André Barcinski no livro “Pavões misteriosos – 1974-1983: a explosão da música pop no Brasil”).
8) O Kiss chamou o desenhista Ken Kelly, especializado em quadrinhos de terror, para fazer a capa, por sugestão de Gene Simmons. O artista, que nem conhecia o Kiss e era fã de Elton John e Bob Seger, foi a um show da banda e já saiu de lá com ideias. O desenho original, que você vê abaixo, foi rejeitado pela gravadora, que achou que a cena ficava um tanto violenta com chamas e prédios destruídos. Kelly jogou a destruição para a contracapa e pôs a banda pisando em ruínas.

9) Ken também fez a capa de “Love gun”, disco de 1977 do Kiss. E desenhou baixos e guitarras para Gene Simmons.

10) Ace Frehley, que recentemente disse apostar 50% num retorno ao Kiss, era o guitarrista da banda em “Destroyer” e, diz Simmons, andava pouco atento às questões do grupo naquela época e mais voltado aos excessos do rock. Ainda assim, ficaria até 1982. Em “Destroyer”, dividiu as guitarras com o músico de estúdio Dick Wagner, mas apresentou uma grande música, “Flaming youth”.
11) “Beth”, uma baladinha que representa para o Kiss o que “I never cry” representa para Alice Cooper, está no disco e foi o single mais vendido da banda nos Estados Unidos. E ainda puxou as vendagens do LP, após três singles malsucedidos. Foi composta pelo baterista Peter Criss ao lado do guitarrista Stan Penridge, quando os dois estavam na banda Chelsea, anos antes. Na época em que foi composta, ela se chamava “Beck”, numa referência à mulher do guitarrista Mike Brand. Olha a demo dela aí.
12) O Kiss e Bob Ezrin colocaram a música no disco, mas ninguém acreditava no potencial dela – fontes afirmam que o grupo achava a música um lixo, mas não tinham composto nada melhor para completar o LP e ela tapou o buraco. Só que ela acabou virando lado B do single “Detroit rock city”, foi descoberta por uma diretora de rádio do Canadá chamada Rosalie Trombley e virou hit a ponto de a banda reeditar o single invertendo os lados. Olha aí a banda recebendo o prêmio de canção de 1976 no People’s Choice Awards da emissora CBS.
13) A crítica musical da época destruiu “Destroyer” (duh). A Rolling Stone criticou as baladas (“inchadas”), a bateria de Criss e a orquestração de Ezrin (tida como brega). O Kiss já estava acostumado com esse tratamento caloroso dos jornalistas, diga-se de passagem.
14) David e Josh Ezrin, filhos do produtor, fazem vozes infantis em “God of thunder”. Teoricamente, foram eles os autores dos gritos de “mamãe!” em “The kids”, música de “Berlin”, disco de 1973 de Lou Reed, produzido por Ezrin.
https://www.youtube.com/watch?v=YY_i-R2ldyA
15) E o Manowar deu uma bela chupada na arte de “Destroyer” na capa de um disco lançado há trinta anos, “Fighting the world”. Aliás, na verdade, rolou uma autochupada, já que essa arte foi feita pelo próprio Ken Kelly. Olha aí.

Cultura Pop
Urgente!: O silêncio que Bruce Springsteen não quebrou

Tá aí o que muita gente queria: Bruce Springsteen vai lançar uma caixa com sete álbuns “perdidos”, nunca lançados oficialmente. O box vai se chamar Tracks II: The lost albums (é a continuidade de Tracks, caixa de 4 CDs lançada em 1998) e nasceu de uma limpeza que Bruce fez nos seus arquivos durante a pandemia. Pelo que se sabe até agora, o material inclui sobras das sessões de Born in the USA (1984) e gravações da fase eletrônica dele, no comecinho dos anos 1990 – inclusive um disco inteiro desse período, que nunca viu a luz do dia.
Essa notícia caiu nos sites na semana passada e trouxe de volta um detalhe que os fãs de Bruce já conhecem bem: ele tem muito material inédito guardado – e material bom. Em uma entrevista à Variety em 2017, ele mesmo comentou que sabia ter feito mais discos do que os que lançou, mas que havia motivos sérios para manter alguns deles nas gavetas.
- Apoie a gente e mantenha nosso trabalho (site, podcast e futuros projetos) funcionando diariamente.
“Por que não lançamos esses discos? Não achei que fossem essenciais. Posso ter achado que eram bons, posso ter me divertido fazendo, e lançamos muitas dessas músicas em coleções de arquivo ao longo dos anos. Mas, durante toda a minha vida profissional, senti que liberava o que era essencial naquele momento. E, em troca, recebi uma definição muito precisa de quem eu era, o que eu queria fazer, sobre o que estava cantando”, disse na época (o link do papo tá aqui – é uma entrevista longa e bem legal).
Com o tempo, vários desses registros acabaram saindo em boxes e coletâneas. Um deles foi The ties that bind, um disco de pegada punk-power pop que seria lançado no Natal de 1979 – e que acabou virando uma espécie de esboço inicial do disco duplo The river, de 1980. Pelo menos saiu uma caixa em 2015 chamada The ties that bind: The River collection, com todo o material dessa época, inclusive o tal disco descartado (além de um material que formava quase um suposto disco de punk + power pop que teria sido abandonado).
Um texto publicado na newsletter do músico Giancarlo Rufatto recorda que Bruce infelizmente deixou de fora do novo box alguns álbuns que realmente mereciam ver a luz do dia. Um deles é um álbum solo (sem a E Street Band, enfim), com uma sonoridade country ’n soul, que foi gravado em 1981. Esse disco teria sido abandonado durante um período de depressão, que resultou em isolamento e na elaboração do disco cru Nebraska (1982), feito em casa com um gravador de quatro canais, só voz e violão.
Bruce até parece fazer referência a esse álbum perdido na entrevista da Variety. “Esse disco é influenciado pela música pop da Califórnia dos anos 70”, contou. “Glen Campbell, Jimmy Webb, Burt Bacharach, esse tipo de som. Não sei se as pessoas vão ouvir essas influências, mas era isso que eu tinha em mente. Isso me deu uma base pra criar, uma inspiração pra escrever. E também é um disco de cantor e compositor. Ele se conecta aos meus discos solo em termos de composição, mais Tunnel of love e Devils and dust, mas não é como eles. São apenas personagens diferentes vivendo suas vidas.”
Outro material bastante esperado pelos fãs – e que também não está na caixa – é o Electric Nebraska, a tentativa de Bruce de gravar com a E Street Band as músicas que acabaram no Nebraska. Nem ele, nem o empresário Jon Landau, nem os co-produtores Steven Van Zandt e Chuck Plotkin gostaram do resultado, e as gravações foram trancadas a sete chaves. Nem em bootlegs esse material apareceu até hoje. Pra você ter ideia, Glory days, que só sairia no Born in the USA (1984), chegou a ser ensaiada e gravada junto.
Quase todo mundo próximo a Bruce acredita que ele nunca vai lançar oficialmente essas gravações elétricas do Nebraska. Max Weinberg, baterista da E Street Band desde 1974 (com algumas pausas), confirmou a existência desse material em 2010, numa entrevista à Rolling Stone, e disse que adoraria ver tudo lançado.
“A E Street Band realmente gravou todo o Nebraska, e foi matador. Era tudo muito pesado. Por melhor que fosse, não era o que Bruce queria lançar. Existe um álbum completo do Nebraska, todas essas músicas estão prontas em algum lugar”, revelou. Bruce pode até guardar discos inteiros na gaveta, mas esse é um daqueles casos em que o silêncio guarda várias histórias – que podem render surpresas bem legais.
E ese aí é o lyric video de Rain in the river, uma das faixas programadas para Tracks II (a faixa sai num disco montado durante a elaboração do box, Perfect world).
Cultura Pop
Urgente!: Supergrass, Spielberg e um atalho recusado

Coisas que você descobre por acaso: numa conversa de WhatsApp com o amigo DJ Renato Lima, fiquei sabendo que, nos anos 1990, Steven Spielberg teve uma ideia bem louca. Ele queria reviver o espírito dos Monkees – não com uma nova versão da banda, como uma turma havia tentado sem sucesso nos anos 1980, mas com uma nova série de TV inspirada neles. E os escolhidos para isso? O Supergrass.
O trio britânico, que fez sucesso a reboque do britpop, estava em alta em 1995, quando lançou seu primeiro álbum, I should coco. Hits como Alright grudavam na mente, os vídeos eram cheios de energia, e Gaz Coombes, o vocalista, tinha cara de quem poderia muito bem ser um monkee da sua geração. Spielberg ouviu a banda por intermédio dos filhos, gostou e fez o convite.
Os ingleses foram até a Universal Studios para uma reunião com o diretor – com direito a recepção no rancho dele e papo sobre fase bem antigas da série televisiva Além da imaginação. O papo sobre a série, diz Coombes, foi proposital, porque a banda sacou logo onde aquilo poderia dar. “Talvez eu estivesse tentando antecipar a abordagem cafona que seria sugerida, tipo a banda morando junta como os Monkees”, contou Coombes à Louder, que publicou um texto sobre o assunto.
- Apoie a gente e mantenha nosso trabalho (site, podcast e futuros projetos) funcionando diariamente.
A proposta era tentadora. Mas eles disseram não. “Foi lisonjeiro e muito legal, mas ficou óbvio para nós que não queríamos pegar esse atalho”, explicou o vocalista, afirmando ter pensado que aquilo poderia significar o fim do grupo. “Você pode acabar morrendo em um quarto de hotel ou algo assim, ou então a produção quer apenas um de nós para a próxima temporada. Foi muito engraçado, respeitosamente muito engraçado”.
O tempo passou. E agora, em 2025, I should coco completa 30 anos (mas já?). O Supergrass, que se separou no fim dos anos 2000, voltou para tocar o disco na íntegra e alguns hits em festivais como Glastonbury e Ilha de Wight.
Aqui, o trio no Glastonbury de 2022.
Foro: Keira Vallejo/Wikipedia
Crítica
Ouvimos: Lady Gaga, “Mayhem”

Tudo que é mais difícil de explicar, é mais complicado de entender – mesmo que as intenções sejam as melhores possíveis e haja um verniz cultural-intelectual robusto por trás. Isso vale até para desfiles de escolas de samba, quando a agremiação mais armada de referências bacanas e pesquisas exaustivas não vence, e ninguém entende o que aconteceu.
Carnaval, injustiças e polêmicas à parte, o novo Mayhem foi prometido desde o início como um retorno à fase “grêmio recreativo” de Lady Gaga. E sim, ele entrega o que promete: Gaga revisita sua era inicial, piscando para os fãs das antigas, trazendo clima de sortilégio no refrão do single Abracadabra (que remete ao começo do icônico hit Bad romance), e mergulhando de cabeça em synthpop, house music, boogie, ítalo-disco, pós-disco, rock, punk (por que não?) e outros estilos. Todas essas coisas juntas formam a Lady Gaga de 2025.
Algo vinha se perdendo ou sendo deixado de lado na carreira de Lady Gaga há algum tempo, e algo que sempre foi essencial nela: a capacidade de usar sua música e sua persona para comentar o próprio pop. David Bowie fazia isso o tempo todo – e ele, que praticamente paira como um santo padroeiro sobre Mayhem, é uma influência evidente em Vanish into you, uma das faixas que melhor representam o disco. Aqui, Gaga entrega dance music com alma roqueira, um baixo irresistível e um batidão que evoca tanto a fase noventista de Bowie quanto o synthpop dos anos 1980.
- Apoie a gente e mantenha nosso trabalho (site, podcast e futuros projetos) funcionando diariamente.
Mais coisas foram sendo deixadas de lado na carreira dela que… Bom, sao coisas quase tão difíceis de explicar quanto as razões que levaram Gaga a criar um álbum considerado “difícil” como Artpop (2013), enquanto simultaneamente mergulhava no jazz com Tony Bennett e preparava-se para abraçar o soft rock no formidável Joanne (2016), um disco autorreferente que talvez tenha deixado os fãs da primeira fase perdidos. Em outro tempo, Madonna parecia autorizada a mudar como quisesse, mas quando Gaga fazia o mesmo, deixava no ar notas de desencontro e confusionismo. O pop mudou, as décadas passaram, o público mudou – e todas as certezas evaporaram.
É nesse cenário que Mayhem equilibra as coisas, entregando um pop dançante, consciente e orgulhoso de sua essência, mas ao mesmo tempo sombrio e marginal. Há momentos de caos organizado, como em Disease e Perfect celebrity – esta última começa soando como Nine Inch Nails, mas, se você mexer daqui e dali, pode até enxergar um nu-metal na estrutura. Killah traz uma eletrônica suja, um refrão meio soul, meio rock que caberia num disco do Aerosmith, enquanto Zombieboy aposta no pós-disco punk, evocando terror e êxtase na pista (por acaso, Gaga chegou a dizer que o disco tem influências de Radiohead, e confirmou o NiN como referência).
Na reta final, o álbum se aventura por outros terrenos: How bad do U want me e Don’t call tonight flertam com o pop dinamarquês dos anos 90 (e são, por sinal, as únicas faixas pouco inspiradas do disco); The beast tem cara de trilha sonora de comercial de cerveja; e Lovedrug mergulha na indefectível tendência soft rock que surge hoje em dia em dez entre dez discos pop. Essa faixa soa como um híbrido entre Fleetwood Mac e Roxette – como se Gaga estivesse pensando também na programação das rádios adultas de 2035.
O desfecho de Mayhem chega como um presente para o ouvinte: Blade of grass é uma balada melancólica de violão e piano, que ecoa tanto a tristeza folk dos anos 70 quanto a melancolia do ABBA, crescendo em inquietação à medida que avança. E então, como quem perde um pouco o tom, o álbum termina com… Die with a smile, a já conhecida balada country-soul gravada em parceria com Bruno Mars, lançada há tempos como single. Dentro do contexto do disco, ela soa mais como um apêndice do que como um encerramento – uma nota de rodapé onde se esperava um ponto final. Nada que chegue a atrapalhar a certeza de que Lady Gaga conseguiu, mais do que retornar ao passado, unir quase todos os seus fãs em Mayhem.
Nota: 8,5
Gravadora: Interscope
Lançamento: 7 de março de 2025.
-

 Cultura Pop5 anos ago
Cultura Pop5 anos agoLendas urbanas históricas 8: Setealém
-

 Cultura Pop5 anos ago
Cultura Pop5 anos agoLendas urbanas históricas 2: Teletubbies
-

 Notícias7 anos ago
Notícias7 anos agoSaiba como foi a Feira da Foda, em Portugal
-

 Cinema8 anos ago
Cinema8 anos agoWill Reeve: o filho de Christopher Reeve é o super-herói de muita gente
-

 Videos8 anos ago
Videos8 anos agoUm médico tá ensinando como rejuvenescer dez anos
-

 Cultura Pop8 anos ago
Cultura Pop8 anos agoBarra pesada: treze fatos sobre Sid Vicious
-

 Cultura Pop6 anos ago
Cultura Pop6 anos agoAquela vez em que Wagner Montes sofreu um acidente de triciclo e ganhou homenagem
-

 Cultura Pop7 anos ago
Cultura Pop7 anos agoFórum da Ele Ela: afinal aquilo era verdade ou mentira?