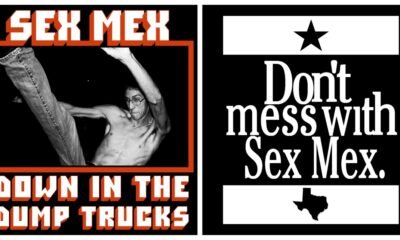Cultura Pop
Cannibal: “Tem gente que diz que gostava mais do Devotos quando era ‘do Ódio”’

Aos 17 anos, quando era um punk da comunidade do Alto José do Pinho, em Recife, Cannibal ganhou uma banda de presente. Sério: ele foi surpreendido por um amigo, organizador de um festival, com a notícia de que a banda dele – que ele nem sabia que tinha – já tinha nome (Devotos do Ódio, trocado depois para só Devotos), já estava com um show agendado no tal festival, e ele que lutasse. “Eu não queria fazer uma banda, eu era do movimento punk e as pessoas ficaram me forçando a fazer uma banda”, brinca o músico, que virou baixista, cantor e compositor. Só que da surpresa inicial veio uma banda de verdade, que já tem mais de 30 anos. O primeiro disco, Agora tá valendo, chega aos 25 anos em 2022.
Misturas musicais sempre foram comuns para Cannibal, Celo (bateria) e Neilton (guitarra) – o grupo já misturava baião e punk desde o primeiro disco. Mas agora o trio dá um passo diferente na carreira, preparando um disco de reggae, com uma inédita, Nossa história, e mais dez releituras do grupo no estilo. Punk reggae sai em breve, e o clipe da música nova já está rolando no YouTube. Cannibal conta que o caráter punk do Devotos continua lá, mas devotado (opa) a outro estilo musical. “É o disco de uma banda punk cantando reggae”, diz. Confira o papo que ele bateu com o POP FANTASMA, no qual ainda recordou a época do primeiro disco.
POP FANTASMA: Você sempre disse que gostava de reggae, mas como apareceu a ideia de fazer um disco dedicado ao estilo?
CANNIBAL: O disco é uma coletânea de músicas do Devotos no estilo. É algo que a gente já tinha pensado em outras ocasiões, em fazer um disco e um show só com elas. Mas aí a gente decidiu desconstruir totalmente as músicas, de modo a que elas ficassem totalmente reggae. A diferença das músicas originais é exatamente essa, porque a maioria tem misturas com hardcore, com punk. E agora viraram reggae.
Só que chamamos uma pessoa para fazer os arranjos, o Pedrinho, que é um cara de dentro do reggae. Já para ter rolado há algum tempo, mas a pandemia deu uma travada na gente. E pior ainda porque quando a gente aprovou o projeto, tinha data para ser finalizado e entregue…
E o que houve?
A data era exatamente na fase em que a pandemia estava muito brava. A gente não tinha entrado em estúdio para ensaiar, para fazer nada. Nos encontramos para em três ensaios fazermos os arranjos de todas as músicas. Mas deu certo. E tem uma coisa muito forte também que é o fato de a gente ter um pé muito forte no reggae. Eu particularmente tenho muito, desde a época do movimento punk por aqui, nos anos 1980. Para nós, misturar e colocar dentro da Devotos o reggae – ou mesmo gravar um disco da Devotos com reggae – é muito natural.
Essa mistura não era muito natural, nos anos 1980, 1990, para quem curtia a banda e gostava de rock. Porque nessa época era muito cada um no seu quadrado. Quem curtia metal, curtia metal. Quem curtia punk, curtia punk. Mas aqui no Alto José do Pinho temos uma cena cultural muito forte, com muita diversidade, de maracatu, de afoxé, de caboclinho, e a gente nunca esteve bitolado. Entramos no movimento punk, gostando, curtindo e montando uma banda. Mas não deixamos de colocar os elementos que a gente curte na nossa arte. Mas o público olha e pergunta: “O que é isso que o Devotos tá fazendo?”.
>>> Veja também no POP FANTASMA: RoliMan: o voo quase solo do cara do Maskavo Roots e do Prot(o)
Mas ainda tem gente muito radical? O cara que é fã de punk e não aceita as misturas… Isso ainda é comum?
Rapaz, pra você ter uma ideia, tem gente que diz pra gente que gostava de Devotos quando era “do Ódio”!
Sério?
Sério, tem gente que fala isso. Eu respondo sempre que não mudou nada. Imagina se Bin Laden mudasse de nome para Jesus Cristo, se ia mudar o caráter dele… Ou se alguém ia falar: “Ah, agora eu gosto de você, porque seu nome é Jesus Cristo”. Você pode mudar seu nome, qualquer coisa, mas o caráter não consegue mudar. E a gente tem muito caráter.
Tanto que quando o disco sair, você vai sentir que é Devotos. Você sente a guitarra na frente, a percussão lá atrás, o reggae tá muito na cara. A gente fez a pegada reggae, a coisa roots, mas manteve a característica do Devotos para a galera se ligar. É uma banda de rock, de punk e hardcore tocando reggae, não é uma banda de reggae.
E sobre essa questão do nome, lembro que uma vez você comentou que o primeiro disco já era para ser só “Devotos”, mas acabou saindo com o “do Ódio”, não foi isso?
Isso, já tinha essa ideia. Nove anos de banda naquela época, né, velho? A gente praticamente foi forçado a fazer o Devotos, cara. Eu não queria fazer uma banda, eu era do movimento punk e as pessoas ficaram me forçando a fazer uma banda…
É mesmo? Como foi isso?
O primeiro show da Devotos foi no Terceiro Encontro Anti-Nuclear, um show que rolava todo dia 6 de agosto, que era o dia da bomba de Hiroshima. Todo mundo falava: “Forma sua banda pra tocar! Forma sua banda pra tocar!”. O Lael, um dos cabeças do projeto, tinha uma banda chamada SS20, que foi uma das primeiras bandas punk de lá, junto com o Câmbio Negro. Ele disse: “Olha, forma tua banda, a banda se chama Devotos do Ódio, vocês vão tocar dia 6 de agosto”.
Isso foi em fevereiro. Eu falei: “Tá bom, vou falar com uma galera aí”. Só que eu nunca nem tinha tocado um instrumento na vida! Nem sabia como ia fazer. Só que eu chamei uma galera que também não sabia nada. Pensei: “Vamos aprender juntos!”. O baterista nunca tinha tocado numa bateria na vida. O guitarrista nunca tinha pego numa guitarra, eu nunca peguei num baixo, era tudo no violão. E de repente é “a banda é Devotos do Ódio e meu nome é Cannibal!” (risos).
Mas com 17 anos você quer chocar, né, velho? Primeiro você choca, depois você vai pensar no que vai fazer. Depois você vê no que aquela música pode ajudar. E Devotos surgiu também para isso, para falar dos inconformismos perante o governo, a prefeitura que não dava nada para a comunidade. Não tinha segurança, nem saneamento. Mas para nós era só botar para foder mesmo, como era no movimento punk. Só que quando vimos que a ideia era mudar o quadro social, fazer um mundo melhor para todo o mundo, vimos que o “ódio” não estava tanto assim dentro de nossa mente. E não era tão bem visto. O sentido do nosso nome era outro, mas as pessoas viam como sendo uma coisa ruim.
E como foi escrever a música nova? Ela tem uma letra forte, fala de resistência – que é algo que marca a história de vocês, o reggae, o punk…
Dentro do movimento punk, foi que eu conheci meus ídolos, as pessoas que eu admiro. Nas escolas não se falava de Martin Luther King, Malcolm X, de Antonio Conselheiro. No movimento punk eu comecei a ler sobre isso. A me informar, a me basear e ver como a luta dessas pessoas era parecida com a da gente na comunidade. Era um separatismo que rolava. Na verdade hoje em dia ainda rola, mas a gente tem voz pra brigar. Li essas e várias outras coisas. Você se inspira no seu cotidiano, a Devotos se inspirava muito no dia a dia da comunidade. Você começa a trazer aquilo para a sua arte, quando lê sobre aquilo.
E essa música fala sobre isso porque comecei a me envolver, a me deixar permitir. Eu tenho 50 anos, tive todos os preconceitos: contra gay, contra mulher – no sentido de não valorizar a mulher. Vivi todo o machismo. Você desconstruir isso é estar perto de pessoas que descontroem também e lutam contra isso. Comecei a me envolver mais com essas pessoas. Vi que a luta deles era igual à minha luta. E de repente com todas as tecnologias, as causas, as lutas, começaram a ficar mais próximas. Antes era cada um lutando no seu quadrado, os negros com sua luta, a classe LGBTQIA+ com sua luta, mulheres com sua luta… Com a tecnologia, a minha luta é sua luta, o que me afeta te afeta. Dentro da classe LGBTQIA+ tem negros, gordos que sofrem gordofobia…
E a gente pensa: “Tá todo mundo no mesmo barco, vamos lutar contra isso”. A arte, a música, é um meio muito positivo para você abrir a mente. Trazer isso para a música do Devotos foi fácil, estou envolvido muito e me descontruindo. Conversando com as pessoas que eu converso, que eu troco ideia… Vejo pessoas que sofrem a mesma discriminação que eu porque sou negro, ou pessoas que sofrem porque são gordas, porque são gays. Foi basicamente isso que eu trouxe para essa música. Tô lendo pra caramba, tendo muita indicação, desde que escrevi meu livro em 2018, o Música para o povo que não ouve. Estou dentro desse mundo, de todo mundo lutando pela democracia, algo que a gente nunca teve, mas quem sabe pode ter.
Os tempos que a gente está vivendo são bem difíceis… Como você tem visto isso aí?
Eu tô perplexo, né? Não imaginava. A gente sabe que o Brasil é um país racista e que tem um certo fascismo dentro dele, mas não sabia que as pessoas eram tão odiosas. E a gente vê que não é só política, é que as pessoas são más, mesmo.
Voltando um pouco ao passado: como era, no começo do Devotos, a vida musical de vocês com relação a comprar discos e ir a shows? Rolava aquelas coisas que o Chico Science falava, de discos que eram comprados em sociedade, etc?
O começo era muito difícil, tudo moleque de comunidade, não tinha grana pra nada… A gente aproveitava quando alguém comprava algum disco e todo mundo escutava. Quando alguém tinha um disco, o outro pegava emprestado, aquilo circulava, tava na mão de todo mundo. A gente não comprava disco em sociedade mas aquilo socializava. Eu comprava mais disco punk, tinha uma galera do Alto que era mais do pop e todo mundo escutava tudo. Tinha uns outros que eram mais do reggae, aliás os discos do reggae eram difíceis de achar. E a gente lia muito. Além dos fanzines tinha as revistas musicais: desde a mais porrada como a Rock Brigade, até as mais pop como a Showbizz.
Quando era show punk, alternativo, dava pra ir tranquilo. Agora show de bandas do mainstream, banda grande… Ai era muito foda pra gente frequentar. Era muito difícil. Vou te dar um exemplo: tinha aqui o Circo Voador (casa de shows no Recife Antigo, homônima da lona da Lapa), onde tocavam as bandas grandes. Tocava Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas, The Police tocou lá.
A gente sempre estava querendo ir para esses shows. Daí fazia algum bico na comunidade como ajudante de pedreiro, ganhava uma grana e ia pro show. E quando não dava mesmo para ganhar a grana, aí a gente ficava na frente do show e tentava pular o muro. Já vi muito show pulando muro. O rock ainda rolava na rádio também, você ainda escutava coisas de rock na rádio, mesmo que fosse o pop. As coisas punks a gente conseguia nos sebos de Recife. Tinha muita carrocinha de sebo que vendia muitas coisas punks, alternativas.
Nessa época do movimento punk a gente não conhecia o Chico, e mesmo o Fred 04 era do movimento do punk da Zona Sul, de Candeias, Piedade. Não ia muito para o Centro. E mesmo a gente não era de Centro, era de periferia. E apesar de a gente se encontrar no Centro, do point ser no Centro, a maioria dos eventos era nas periferias, porque a maioria das pessoas que frequentavam os points punks eram de lá. A gente tocava no lugar em que alguém morava, no centro social urbano onde aquele cara morava. A gente ia lá e fazia um show ali. E aí saía tocando todas as comunidades, todo o subúrbio.
Daí não encontrávamos muito com Chico, com 04. Fomos encontrar com essa galera já no movimento mangue. Os caras já vinham de antes, o 04 principalmente. Mas eu entrei no punk em 1984, 1985, o mangue foi lá pelo começo dos anos 1990.
O Agora tá valendo, primeiro disco do Devotos, faz 25 anos no ano que vem. Quais são suas lembranças da época do disco, de quando ele foi gravado?
Cara, a minha lembrança é muito nítida. Eu fecho o olho, penso no disco e lembro de tudo que aconteceu naquela época. Era muito foda. Começa com o Abril Pro Rock, o Mauricio Valladares que foi diretor do selo Plug junto com a Aline. O Plug era um selo da BMG… Aconteceu isso na época do movimento mangue: a Sony fez o selo Chaos, a BMG fez o Plug, que era para pegar as bandas alternativas. E estava tendo um boom grande de bandas alternativas, independendo do estilo. E o Mauricio tava lá no Abril Pro Rock, viu a Devotos, gostou pra caralho. Ele conversou com Paulo André (criador do festival), nem foi com a gente.
Eu estava aqui no Alto José do Pinho jogando uma pelada, Paulo André chegou e disse que Mauricio estava interessado em gravar com a gente. Eu fiquei feliz pra caralho. Eram nove anos de banda, né, velho? A gente era uns moleques que moravam no subúrbio. E quando chega uma certa idade, os pais nem pensam que você tem que terminar os estudos, é trabalhar. E de repente Devotos com nove anos de banda, não ganhava nada, nem se sustentava, e surge essa oportunidade.
Gravamos o disco no estúdio do Tovinho, aqui em Recife. Tovinho era um cara que tocava numa banda chamada Alcano, muito famosa, uma banda que sempre foi grande. Acho que ele tocou também com Alceu Valença, ele é tecladista. O lance todo é que não tinha nem horário para a gente fazer, para gravar. O estúdio dele sempre foi muito requisitado e o único horário que tinha era de madrugada. Nós passamos praticamente uns vinte dias ou mais gravando de 3 da manhã às 9h da manhã. As lembranças são as mais maravilhosas, as dificuldades com o horário foram fichinha. A vontade que nós tínhamos de gravar era muito grande, não importava como.
Quem produz o disco é Lucio Maia (Nação Zumbi). Ele trouxe um técnico de som do Rio de Janeiro, um cara muito foda, com uma energia muito boa. A gente se divertia muito com ele e ele mais ainda com a gente, porque acho que era a primeira vez que ele estava indo para o Nordeste, pro Recife, e a gente tem praticamente um dialeto. Tudo que a gente falava que ele não entendia, ele escrevia numa caderneta. O cara saiu com um dicionário daqui! Acho que ele escreveu um livro, deve ter ficado rico e tá morando nos Alpes Suíços.
Eram noites muito divertidas na gravação. Tem poucas imagens dessa gravação, mas o que tem dá saudade. O Lucio trouxe o baixo de Dengue, nunca tinha tocado Fender na vida. Neilton já tinha as histórias dele de guitarra. Ele tinha o amplificador dele, mas não havia ainda montado o dele. E era a noite toda. Uma das coisas muito fodas que a gente sentiu no disco é que a energia que a gente pôs no estúdio não estava na master. Quando a gente ouviu a master, perguntou: “Vai masterizar quando? Vai mixar quando?”. E o cara falou: “Não, é isso aí!”. E foi uma surpresa pra gente, porque ficou muito pop! Não estava pesado como era o Devotos.
Foi uma decepção para nós. Musicalmente não: em termos de repertório, para mim, é o melhor disco da Devotos. Tem toda uma história ali, uma história de resistência, de tudo ali. Ele não é só música, é o que me faz gostar dele. Não é pesado como a gente queria e eu ainda gosto de ouvir. Mas a gente ficou decepcionado, a gente tinha a ideia de que ia chegar uma parada pesada. Mas aí passou e a gente começou a pensar nos frutos que iam render o disco.
Quando ele sai, a primeira coisa que acontece é a gente viajar. E aí é o melhor de estar numa gravadora grande: onde a gente chegava, as pessoas cantavam as músicas do Devotos. “A gente nunca veio aqui, como é isso? Os caras cantando, pedindo autógrafo, com o disco na mão!”, a gente pensava. Depois que a gente percebeu que era a assessoria de imprensa trabalhando pra caralho e metendo música nas rádios. A gente fazia muito rádio e TV.
Li certa vez que alguns fãs da antiga fizeram panfletagem contra vocês, reclamando que a banda havia “se vendido” porque foi para uma gravadora. Isso aconteceu mesmo? Como era o diálogo com esses fãs?
O movimento punk, como em todo lugar, era muito fechado para as mídias. Imagina para as gravadoras? A gente já estava em outra vibe, era de falar mal mas fazer. Estava em outra pegada, não era só destruir. A gente estava tocando nos picos punks e em qualquer outro pico que chamassem a gente. E realmente aconteceu mesmo, quando a gente entrou para BMG via mesmo punk fazendo panfletagem. E não era algo que me falaram não, os caras chegavam em mim! Me dizia que eu tinha me vendido, me entregava o panfleto e quando eu olhava, era o nome “Devotos” com um risco no meio. Até da MTV os caras falavam. Eu até brincava: “Mas como é que você sabe que a gente está na MTV? Tu assiste?”. Então tinha isso que era meio baixo astral, mas a gente não ligava, não.
Aliás, verdade: Devotos passou a aparecer muito na MTV. O que isso representou para a banda e para a comunidade na qual vocês moravam?
Ih, a MTV foi como uma mãe de braços abertos para a gente. Qualquer coisa que a gente fosse fazer já pegavam para fazer matéria. A primeira vez que a gente apareceu lá foi quando o Gastão Moreira veio fazer o Abril Pro Rock. Fui entregar o material para ele, que era uma camisa e o clipe de Mais armas? Não! A camisa era pintada por Neilton à mão. Ele é artista plástico e faz todo o material do Devotos. Já teve uma exposição dele de três andares só com coisas do Devotos. É um artista muito foda, e ainda faz amplificador!
Entreguei essa camisa pro Gastão e no dia do Fúria Metal ele mostrou: “Vim do Recife e a galera do Devotos do Ódio me deu esse presente aqui”. Muito, mas muito tempo depois, apareceu o clipe. E depois de um tempo quando a gente gravou o Agora tá valendo, a gente tinha gravado a música Punk rock hardcore, com Claudio Assis. Foi uma lata de filme que sobrou de cinco minutos e ele fez dois clipes, o Vida de ferreiro e o Punk rock hardcore.
E na verdade, a gente foi fazer o clipe de Vida de ferreiro, que é um só. A gente começou a gravar, gravar, e você sabe que quando demora muito a gravação tem a parte de tocar. E a gente sempre foi secão de tocar, uma secura da porra pra tocar. E falei pros dois: “Vamos tocar aquela música que a gente ensaiou ontem, o Punk rock hardcore“. A gente tocou ela duas vezes, quando tocou a terceira, o Claudio Assis: “A música do clipe vai ser essa!”. Acho que foi o primeiro clipe feito antes da música. Ele pronto, a MTV tinha o MTV Awards e tinha a categoria democlipe.
Não ganhamos, mas foi muito do caralho ter concorrido, porque eles ficavam passando os clipes todo dia. As pessoas ficaram com muita curiosidade. Lembro que toda vez que a gente ia na MTV, a Anna Butler botava a gente pra fazer vários programas: João Gordo, Soninha, Gastão, Edgar… E o Rock & Gol, que eu participei de onze deles. Muitos movimentos começaram a aparecer por causa da MTV e todo mundo tinha espaço lá.
Voltando ao disco novo: como foi para a banda reencontrar-se num estúdio em plena pandemia, gravar de máscara, tomar cuidados que não eram necessários antes?
Bicho, foi muito difícil entrar em estúdio com essa pandemia. O Punk reggae já tinha sido aprovado pela Lei Aldir Blanc, com o selo Estelita. Mas tinha a data para ser entregue, e a pandemia ficando maior. Desde que começou a pandemia, a gente nem tinha se visto, quanto mais ensaiado. E a gente sabia que tinha que botar esse projeto para a frente de alguma forma. A gente já sabia as músicas que a gente queria, mas nem tinha descontruído as músicas. E para mim é difícil descontruir uma coisa que é sua. De outra forma, você tem que se influenciar na sua própria arte para desconstruir. Você vai se influenciar no seu reggae e descontruir ele.
Esse era o problema maior. O outro problema era o tempo, a gente não tinha muito tempo. Quando deu uma amenizada e a Vigilância Sanitária começou a abrir algumas coisas, deu um certa esperança. E Mathias (Severien), do estúdio Pólvora, que é nosso técnico de som e produtor, tem um estúdio muito grande, então não tem problema. Já o estúdio que a gente ensaia na casa de Neilton é bem pequenininho. Ia ter um problema grande para a gente ensaiar lá.
Quando fomos para Mathias foi bem mais tranquilo. Fizemos na pressa mas fizemos do modo que a gente curtiu. Quando chegou Pedrinho, fez os arranjos, colocou metais, percussão, teclados e a gente escuta… Puta que pariu, velho, ficou muito foda. E ainda teve o Buguinha que fez a masterização, e é um papa no Recife do dub e do reggae. Grava muito com fita de rolo, é um puta produtor também.
Quando chegou o resultado para nós, a gente curtiu pra caralho. A gente queria chegar o mais próximo possível do reggae roots. Não é que aquilo esteja já roots, porque aí é quando é feito pela galera reggaeira. A gente tem uma admiração, curte muito, mas não é uma banda de reggae. Ele é um ritmo que está muito próximo do punk em termos de apartheid cultural. O reggae é muito foda em vários lugares mas em Recife ele ainda sofre um apartheid. Ele tem um público muito foda aqui, e os produtores daqui que trabalham com ele não são pessoas do reggae. Eles trazem bandas grandes de reggae e praticamente não se coloca bandas do Recife para abrir. E o reggae ainda tem as letras com suas temáticas, que parecem muito com as letras do punk. É uma coisa que está no sangue da gente.
Algum fã já disse a você a música do Devotos mudou a vida dele? Como se deu isso? É algo que acontece muito?
Cara, já chegou sim. Já chegaram várias pessoas para falar que Devotos mudou o pensamento delas. Mas teve um que foi mais contundente, que eu fiquei mais de cara. A maioria das pessoas que falou isso para nós era de comunidade, de subúrbio… Bom, tinha a galera também de classe média. Mas essa pessoa foi foda.
A história foi a seguinte: encontrei uma amiga, que estava indo na casa de uma pessoa, e ela ia comprar uma máquina fotográfica dessa pessoa. Essa pessoa ia viajar. Como era perto de onde a gente estava, disse que eu ia com ela. Quando eu cheguei lá, o cara não ia vender só a máquina. Ele ia vender os vinis, um monte de coisas da casa dele porque ele ia para a Espanha. Eu sou louco por vinil, se tem uma coisa que me fode é vinil. Quando eu quero um vinil, passo o cartão de crédito e depois é que eu vejo que eu sou fodido mesmo, pobre… Mas aí já foi.
E aí comprei uns vinis, passei o zap pra ele mandar o número de uma conta para eu pagar. Depois chegou uma mensagem do cara dizendo: “Você não tem ideia de como fiquei feliz com você vindo na minha casa. Sempre fui muito fã do Devotos e sempre curti os shows. Quando eu era adolescente eu não estava nem aí para nada e a música Eu tenho pressa mudou minha vida”. Esse cara estava indo fazer doutorado em psicologia na Espanha, um cara que morava um bairro fuderoso do Recife, um cara branco, que nunca sofreu problema financeiro ou social dos que a gente sofre – como negros, suburbanos. Foi uma surpresa muito grande de ver onde nossa música estava chegando.
Um cara falou isso para mim uma vez, o Carlos Freitas, que tinha uma loja de discos no Recife. A gente mandava umas caixinhas de demo para a loja dele. Ele deu o toque das letras, falou: “Cannibal, tu que faz as letras? Vocês são uma galera de subúrbio, vê se você começa a fazer umas letras com mais esperança. Só falar mal é foda, tem que falar o lado de como mudar as coisas ruins. Isso vocês já fazem com a Devotos”. Eu fui dormir pensando nisso e fiz Luz da salvação (canta a letra). Comecei a fazer música nesse sentido, falando: “Vamos lá, vai dar certo, vamos conseguir”. E enaltecendo pessoas que fizeram de tudo para o Brasil fosse um país melhor, não só para elas mas para sua cultura, para sua raça. Foi um aprendizado para mim. A gente é um setor de informação também. A música transforma, a arte transforma. Não existe um cotidiano para os artistas, existe um cotidiano para a sociedade.
E isso de “mudou minha vida”, é recíproco. O Carlos quando falou isso mudou minha vida, mudou o jeito que eu tinha de escrever, de pensar. A gente começa a se envolver mais com os problemas dos outros, e vê que o problema é social, que os problemas de hoje se resolvem no coletivo. Você leva isso para sua arte e as pessoas veem que o que você faz não é só música. Eu costumo dizer isso, velho: Devotos não é só música. E nunca foi só música.
>>> Saiba como apoiar o POP FANTASMA aqui. O site é independente e financiado pelos leitores, e dá acesso gratuito a todos os textos e podcasts. Você define a quantia, mas sugerimos R$ 10 por mês.
Cultura Pop
No nosso podcast, os erros e acertos dos Foo Fighters

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No terceiro e último episódio, o papo é o começo dos Foo Fighters, e o pedaço de história que vai de Foo Fighters (1995, o primeiro disco) até There’s nothing left to lose (o terceirão, de 1999), esticando um pouco até a chegada de Dave Grohl e seus cometas no ano 2000.
Uma história e tanto: você vai conferir a metamorfose de Grohl – de baterista do Nirvana a rockstar e líder de banda -, o entra e sai de integrantes, os grandes acertos e as monumentais cagadas cometidas por uma das maiores bandas da história do rock. Bora conferir mais essa?
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: encarte do álbum Foo Fighters). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
(a parte do FF no ano 2000 foi feita com base na pesquisa feita pelo jornalista Renan Guerra, e publicada originalmente por ele neste link)
Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.
Mais Pop Fantasma Documento aqui.
Cultura Pop
No nosso podcast, Alanis Morissette da pré-história a “Jagged little pill”

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No segundo e penúltimo episódio desse ano, o papo é um dos maiores sucessos dos anos 1990. Sucesso, aliás, é pouco: há uns 30 anos, pra onde quer que você fosse, jamais escaparia de Alanis Morissette e do seu extremamente popular terceiro disco, Jagged little pill (1995).
Peraí, “terceiro” disco? Sim, porque Jagged era só o segundo ato da carreira de Alanis Morissette. E ainda havia uma pré-história dela, em seu país de origem, o Canadá – em que ela fazia um som beeeem diferente do que a consagrou. Bora conferir essa história?
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: Capa de Jagged little pill). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.
Mais Pop Fantasma Documento aqui.
Cultura Pop
No nosso podcast, Radiohead do começo até “OK computer”

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. Para abrir essa pequena série, escolhemos falar de uma banda que definiu muita coisa nos anos 1990 – aliás, pra uma turma enorme, uma banda que definiu tudo na década. Enfim, de técnicas de gravação a relacionamento com o mercado, nada foi o mesmo depois que o Radiohead apareceu.
E hoje a gente recorda tudo que andava rolando pelo caminho de Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien e Phil Selway, do comecinho do Radiohead até a era do definidor terceiro disco do quinteto, OK computer (1997).
Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: reprodução internet). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.
Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.
Mais Pop Fantasma Documento aqui.