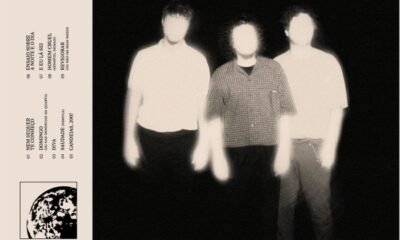Cultura Pop
Várias coisas que você já sabia sobre Mellon Collie, dos Smashing Pumpkins

Butch Vig, que produziu dois discos dos Smashing Pumkins (Gish, de 1991, e Siamese dream, de 1993), costumava dizer que Billy Corgan, vocalista, guitarrista e compositor dos Smashing Pumpkins, era “um pentelho no estúdio”. E isso porque o produtor de Nevermind, clássico do Nirvana (1991), nem trabalhou com a banda no CD duplo (e LP triplo) Mellon Collie and the infinite sadness (1995).

Nesse disco, chegou no auge a obsessão de Corgan por experimentações de estúdio, por gravar e regravar diversas partes, e por investir numa sonoridade “bolo de noiva”, incomum a bandas indies. Todavia, Mellon Collie costuma ser definido pelos outros integrantes da banda (D’Arcy Wretzky no baixo, James Iha na guitarra e Jimmy Chamberlin na bateria) como tendo sido um álbum de elaboração mais tranquila que os antecessores. Afinal, no novo disco, pelo menos Corgan não resolvera morar no estúdio. Ou pressionar seus companheiros até causar estresses graves (e problemas de relacionamento mais graves ainda). Principalmente, não resolveu regravar todas as partes de guitarra e baixo porque não gostou das colaborações dos coleguinhas (isso aconteceu em Gish).
SEMIACÚSTICO
Diz a lenda que Corgan não curtiu o som de seus pedais quando Siamese dream foi levado para os palcos. Daí o objetivo principal do cantor, compositor e déspota dos Smashing Pumpkins era fazer com que o disco tivesse o poder da banda ao vivo. Sobretudo, com tons alternando momentos acústicos e elétricos, na mesma dualidade calma-e-pesada dos shows da banda.
Outra vontade do compositor era, finalmente, pôr no disco uma série de pensamentos que rondavam sua cabeça desde que era bem novinho – Mellon Collie era basicamente um tratado sobre amadurecimento, autoestima e raiva adolescente. Da mesma forma, era igualmente importante continuar na dianteira do “rock alternativo” (muito entre aspas, porque entre 1995 e 1998 houve pouca coisa tão mainstream no estilo do que os Pumpkins). E permanecer sendo o porta-voz de uma juventude oprimida e indefesa. Conseguiu: Mellon Collie and the infinite sadness vendeu a rodo, estourou hits como 1979 e Tonight, tonight. E, enfim, se tornou “aquela obra” que resume todo o trabalho de um artista.
FESTA DA MELANCOLIA
O clássico Mellon Collie completou 25 anos agora mesmo, dia 24 de outubro. A ideia da banda era comemorar o niver com shows, mas a pandemia do coronavírus impediu, e tudo ficou adiado para 2021. Por fim, vem mais aí: a banda vai lançar uma continuação do disco, no segundo semestre do ano que vem, com mais 33 (!) canções.
Entramos na comemoração e segue aí nosso relatório sobre o disco. Leia ouvindo. Ouça lendo.
DILEMA. Sujeitinho problemático por natureza, Corgan dava voltinhas na sala na época de Mellon Collie and The Infinite Sadness. O sucesso de Siamese dream tinha feito com que tanto a crítica, quanto a própria gravadora (Virgin), não deixassem de achar que havia algo meio estranho naquela banda de aparência e musicalidade incomuns. Isso mexia com demônios (muito) internos do cantor.
COMO ASSIM? O próprio Corgan te explica. “Fui criado em uma casa onde nada nunca era bom o suficiente e, quando cheguei ao topo, esperava que finalmente fosse tipo, ‘OK, Billy, você está no clube’. Mas não funciona assim. Uma crítica muito comum para Mellon Collie era: ‘O astro do rock mais improvável. Como esse cara chegou aqui?’. Era como estar em um livro de Kafka. Eu ficava pensando: ‘Quando vai ficar bom o suficiente?’ Psicologicamente, foi devastador”, desabafou.
TINHA CONCEITO EM ‘MELLON COLLIE’? Bom, tinha e não tinha. Corgan pessoalmente não gostava do termo “disco conceitual” e dizia que o novo álbum era bem mais “vago” que os anteriores. Mas dividiu os dois CDs de Mellon Collie em “dia” (ou “dawn to dusk”) e “noite” (ou “twilight to starlight”). Em entrevistas, dizia que basicamente pensava em expressar tudo o que se passa na cabeça de um garoto de 14 anos. “Estou dando tchau para mim no espelho retrovisor, dando um nó na minha juventude e colocando-a debaixo da cama”, afirmou. Além disso, afirmou que Mellon Collie é um disco baseado na “condição humana da tristeza mortal”.
ALIÁS E A PROPÓSITO, nas primeiras entrevistas que Billy deu para explicar qual era a do disco, ele costumava chamar Mellon Colllie de “The wall da geração X”, numa referência à ópera-rock do Pink Floyd (1979).
IDADE DE OURO. Em entrevistas, Billy Corgan revelava que sua adolescência tinha sido mais próxima possível do que se entende como “normal”. Mas que não se identificava com grupo nenhum. Ele chegou a fazer esportes, mas não andava com os esportistas. Ouvia rock e tocava guitarra, mas não era amigo dos doidões da turma. “Não conseguia me adaptar de forma alguma. Se você é jovem e é assim, vira o oponente. Então eu era o anti-qualquer coisa, foda-se”, revelou.
ZERO. Se você era fã de rock nos anos 1990 e consumia revistas de música, deve ter visto milhares de vezes a icônica foto de Billy Corgan com uma camisa preta onde se lia a palavra “zero” em letras prateadas. Era o nome da primeira música a ser gravada para o disco, que também ganhou single e clipe. A camisa era um modelo fora de linha de uma empresa de skate chamada Zero Skateboards. E virou o uniforme de Corgan, usada por ele em shows, em clipes (o de Bullet with butterfly wings) e numa foto do encarte de Mellon Collie.
O POVO QUER SABER. Entrevistado para a Spin em junho de 1996 – quando Mellon Collie já era um best seller – Corgan ouviu do repórter Craig Marks a pergunta que não queria calar: quantas camisas “zero” ele tinha? “Bom, mais de uma, obviamente. O super-herói precisa de um uniforme”, disse.
“ZERÓIS” DO ROCK. A mesma Spin revelava que os fãs tinham se identificado bastante com o “zero”. Tanto que num show que os Pumpkins haviam feito no Japão, em fevereiro de 1996, camisas com a palavra eram vendidas por 3.500 yens. Aliás, vale dizer que o fato de a camisa estar fora de linha fez uma turma enorme começar a piratear a peça.
PRODUTORES QUERIDOS. Para “sair da zona de conforto”, Corgan decidira em Mellon Collie não repetir a dobradinha com Butch Vig – que, de todo jeito, já estava ocupado demais tramando o lançamento de sua banda, Garbage. Mark “Flood” Ellis, que trabalhara com U2, Depeche Mode e PJ Harvey, e Alan Moulder (que mixou Siamese dream) foram os escolhidos para orientar a banda numa jornada de trabalho que durou dez meses, com 12 a 16 horas de trabalho por dia (!). Corgan dividiu os trabalhos com a dupla.
ALIÁS E A PRÓPÓSITO, nos últimos dias de Mellon Collie, dizem testemunhas, a banda mal dormia, ocupando o estúdio por vinte horas (!).
MUDOU TUDO. Lá para abril de 1995, a banda começou a gravar Mellon Collie, só que num método de trabalho completamente diferente. Em vez de um estúdio convencional, ocuparam seu espaço de ensaio em Chicago, a Pumpkinland. A ideia inicial – soprada no ouvido da banda por Flood – era que os músicos produzissem demos, mas o material acabou servindo de base para tudo que se ouve no disco. Flood também incentivou a banda a dedicar tempo a jams e composições novas.
VOZ DA EXPERIÊNCIA. O rodado Flood também foi fundamental numa séria mudança de paradigma dos Smashing Pumpkins. A banda se sentiu compelida a perder os próprios preconceitos em relação a certos estilos musicais.
ROLOU MARLEY. “Ele te ensinaria a enfrentar seus próprios medos, que te impedem de entrar em algo”, contou Corgan. A dada altura, Flood sugeriu à banda tentar até uma levada de reggae (estilo que, de fato, nada tem a ver com os SP) numa faixa. “Flood faria você enfrentar esses preconceitos internos, do que é legal e do que não é”.
DUPLA. O fato de terem dois produtores para gravar o disco fez com que a banda mudasse algumas técnicas comuns de gravação. Antes, ainda que Billy Corgan adorasse gravar 200 partes de guitarra e vocais, a banda usava apenas uma sala para tudo, deixando músicos ociosos e estressando o processo. Quem precisasse gravar, que ficasse esperando. Dessa vez, a banda usou duas salas de gravação: Flood ia para a sala A com Corgan, e Moulder para a sala B com Iha e D’Arcy. Isso foi fundamental para que o clima melhorasse e as tendências tirânicas de Corgan fossem reduzidas. Em seguida, a turma se mudou para o Chicago Recording Company.
DIGITAL E ANALÓGICO. A mistura dos dois processos deu samba. Ou melhor: deu grunge progressivo com músicas de dez minutos. Flood gravava Corgan numa placa MCI e Moulder cuidava do ex-casal D’Arcy e Iha à base de gravadores de fita digital Tascam e Pro-Tools.
CORTA E COLA. Por causa disso, alguns milagres foram conseguidos com rapidez, como a combinação das setenta (!) partes de guitarra de Thru the eyes of Ruby. E a união das seis partes diferentes (gravadas com instrumentos e microfones igualmente diferentes) da quilométrica Porcelina of the vast oceans.
DÁ PRA FALAR MAIS ALTO? Corgan recorda-se de que, para garantir que Mellon Collie soaria como nos palcos, as gravações transcorriam em volumes ensurdecedores no estúdio. “Era fisicamente desconfortável. Seus ouvidos, sua resistência emocional, se desgastariam”, admitiu o músico. Por outro lado, Flood (aproveitando-se da experiência adquirida com o U2) descobriu que Corgan se soltava como cantor quando não usava fone de ouvido. Pôs caixas na frente dele e um microfone em sua mão.
BATERA. Além disso, Jimmy Chamberlin, baterista com treinamento em big bands, entrou na neura de Corgan por microfonações diferentes, e passou a alternar microfones para gravar músicas. Isso, na medida em que queria que os tambores e pratos soassem com mais ataque ou “como uma seção rítmica”.
ALIAS E A PROPÓSITO, os drum rolls de Tonight tonight, a segunda faixa do disco, foram feitos numa caixa Ludwig Supra-Phonic de 5 1/2 x 14 polegadas, do próprio Jimmy. Que por sinal pode ser sua pela bagatela de R$ 1.654,59. Afinal, o músico pôs várias peças clássicas de sua coleção à venda há alguns anos.
GRANDE COMPOSITOR. Corgan compôs praticamente tudo em Mellon Collie, menos as quietas Take me down e Farewell and goodnight, de Iha. O guitarrista assinava alguns lados B da banda e era tido como uma arma secreta dentro do grupo, mas Corgan o deixava de fora de quase todo o processo criativo. “Eu gosto dele, mas muitas vezes as composições de Iha não se encaixam no conceito do disco. Em outras ocasiões, elas são ruins”, chegou a dizer Corgan à Rolling Stone.
CONFESSIONAL. O tom pessoal das letras de Mellon Collie acabou arrebanhando mais fãs para o grupo, sobretudo pelo aspecto impenetrável de algumas músicas. Num texto, o site Genius chama a atenção para o fato de que há várias especulações sobre o nome da acústica Stumbleine – Billy Corgan diz que é um nome de mulher, e vários fãs creem ser uma referência a Thumbelina, conto de Hans Christian Andersen. A pesada X.Y.U., definida por James Iha como “perturbadora”, teria este título porque para o narrador, tudo termina com o “você” (you, ou a letra U, substituindo Z, última letra do alfabeto). Enquanto a Porcelina de Porcelina of the vast oceans é uma “amante esquiva” que balança o sistema de crenças de seu amado, e o leva até onde ela quiser.
CAPA. O rico material que você vê no trabalho gráfico de Mellon Collie partiu de colagens feitas por um artista de Pittsburgh, John Craig. A banda chegou até ele por sugestão do diretor de arte do disco, Frank Olinski. Inicialmente, ele faria apenas as ilustrações internas, mas a banda curtiu seu trabalho e ele acabou fazendo tudo.
COMO FOI FEITO. Corgan mandava esboços e anotações por fax, e Craig tentava trazer aquilo à vida, seja por intermédio de colagens ou de ilustrações. Para unir tudo, Craig usou uma fotocopiadora colorida. “É o CSI das capas dos álbuns”, disse Craig. “Em qualquer colagem, estou sempre testando todas as possibilidades”.
GAROTA DA CAPA. Aquela moça sonhadora do invólucro de Mellon Collie também é uma das colagens de Craig, por sinal. O rosto dela veio de uma pintura intitulada The souvenir (Fidelity), do francês Jean-Baptiste Greuze (1725-1805). Já o corpo veio do retrato de Santa Catarina de Alexandria pintado pelo renascentista Rafael (1483-1520).

PERGUNTAS. O site Illustration Chronicles entrevistou Craig, fez um belo texto e encerrou com ideias interessantes sobre porque a capa de Mellon Collie é tão atraente. “As ilustrações são misteriosas. Eles sugerem histórias e narrativas e o convidam a encontrar suas próprias interpretações. Quem sabe para onde está indo a garota da capa? Quem pode dizer por que ela está triste? E quem pode dizer aonde essa melancolia a levará? Por essas razões, as ilustrações de Craig funcionam. E é por causa disso que a garota se tornou um ícone indelével na história da música e da ilustração”, escreveram lá.
SAIU! Mellon Collie and the infinite sadness chegou às lojas no dia 24 de outubro de 1995. Embora houvesse muita melancolia no disco, era hora de festa. A banda deu um show no Riviera Theatre e fez uma transmissão de rádio na noite anterior, para celebrar o lançamento. O álbum chegou ao número 1 da Billboard na semana seguinte. E por fim, juntou-se ao seleto grupo (The wall, Thriller, Rumours) de clássicos agraciados com um disco de diamante (mais de 10 milhões de cópias vendidas). Ou seja: aquele disco que dá a impressão que “todo mundo tem” em casa, e que quase todos os fãs de rock já viram a capa ou conhecem pelo menos uma música. E que, por fim, de vez em quando vira viral.
O VINIL QUE SUMIU. Como era comum nos anos 1990, Mellon Collie ganhou uma versão em vinil (triplo!), que não ficou muito tempo nas lojas e teve apenas três mil cópias prensadas. O disco já ganhou alguns relançamentos. Entre eles um box que está hoje nas plataformas digitais, com quase seis horas de duração (!) e boa parte do material que a banda gravou nas sessões.
CLIPES. Cada single de Mellon Collie ganhou um clipe: Bullet with butterfly wings, 1979, Tonight tonight, Zero e Thirty three. O de 1979 marcou época por trazer adolescentes vida loka se divertindo num Dodge Charger, zoando numa festa e arrumando encrenca na rua. Todos os integrantes fazem pontas (Corgan aparece o tempo todo no banco de trás de um automóvel). E a banda toca numa cena de festa. Aliás, o vocalista declarou que, na concepção original dele, o clipe seria bem mais destrutivo. “A loja de conveniência terminaria destruída, por exemplo”, conta.
MAS COMO VOCÊ DEVE SABER, o clipe de 1979 quase não sai porque a equipe esqueceu as fitas com as imagens em cima de um carro. O material sumiu quando o motorista arrancou com o automóvel. A banda já estava em Nova York para um show e precisou voltar para Chicago para refazer a cena da festa.
ALIÁS E A PROPÓSITO, no meio da turnê de Mellon Collie, Corgan tomaria uma decisão da qual se arrependeria amargamente. Continuou com o giro mesmo após o tecladista de turnê, Jonathan Melvoin, morrer de overdose em 11 de julho de 1996, enquanto tomava heroína com Jimmy Chamberlin.
MAS O QUE HOUVE? Desacordados, os dois tomaram injeção de adrenalina no coração (que nem na famosa cena de Pulp fiction, de Quentin Tarantino) mas o tecladista não resistiu. O batera foi preso por posse de heroína e expulso. Mas ficou na turnê até o fim, “senão quem fica na roubada somos nós”, decretou Corgan.
POR SINAL, Melvoin (34 anos em 1996) já era mais velho e bem mais experiente que os patrões. Iniciara a carreira como baterista de bandas punk, como The Dickies. Depois que se profissionalizou, integrou o The Family, um dos projetos de Prince, que fez a primeira versão de Nothing compares 2 U, aquela mesma que Sinéad O’Connor transformaria em hit em 1990. Suas irmãs, as gêmeas Susannah e Wendy Melvoin, integravam uma das bandas do cantor, The Revolution. E o próprio Prince homenageou Melvoin com a canção The love we make.
MAS Chamberlin acabou fazendo falta ao grupo, como o próprio Corgan admitiu. Lá por 1998, gravando Adore, a banda recorreu a um pequeno rodízio de bateras. Em seguida, os Smashing Pumpkins, já com Jimmy de volta, gravariam Machina/The machines of God em 2000, seguido de Machina II/The friends & enemies of modern music, do mesmo ano – este último, dado de graça para fãs baixarem na internet.
ADOLESCÊNCIA FELIZ. Aproveitando o hit 1979, a Spin perguntou a Corgan, Iha e D’Arcy… como era a vida deles em 1979. Iha morava no subúrbio de Chicago e passava o dia, principalmente, indo às casas de amigos e “rindo dos clipes de Prince e Bruce Springsteen na MTV, que nem Beavis & Butthead. Não era uma existência ruim, mas esteticamente falando, não era dos melhores lugares para se estar”. D’Arcy tocava oboé e violino, fazia atletismo e, certa vez, foi tirada da escola pelos pais para viajar pelo México, Texas e Arizona. Corgan, aos 12, era um garoto grandão (maior que seus colegas de classe) que jogava baseball. Aos 14, já estava tocando guitarra.
E já que você chegou até aqui, talvez curta relembrar que uma banda brasileira de Goiânia, Réu e Condenado, parodiou o trabalho gráfico de Mellon collie no disco Um compêndio lírico de escárnio e dor, de 2005.
ALIÁS pega também os Smashing Pumpkins lançando Mellon Collie… no palco do festival Hollywood Rock, no Rio, em janeiro de 1996. Pois é: para o público brasileiro, o duplão dos SP teve uma vantagem em relação a The wall, Rumours e outros best sellers de diamante. Os fãs puderam ver o material do disco ao vivo e a cores por aqui imediatamente (eu tava lá).
Com informações de Music Radar, Uncut, Stack e Spin.
Veja também no POP FANTASMA:
– Demos o mesmo tratamento a Physical graffiti (Led Zeppelin), a Substance (New Order), ao primeiro disco do Black Sabbath, a End of the century (Ramones), ao rooftop concert, dos Beatles, a London calling (Clash), a Fun house (Stooges), a New York (Lou Reed), aos primeiros shows de David Bowie no Brasil, a Electric ladyland (The Jimi Hendrix Experience) e a Pleased to meet me (Replacements). E a Dirty mind (Prince). E a Paranoid (Black Sabbath). E a Tango in the night (Fleetwood Mac).
– Além disso, demos uma mentidinha e oferecemos “coisas que você não sabe” ao falar de Rocket to Russia (Ramones) e Trompe le monde (Pixies).
– Mais Smashing Pumpkins no POP FANTASMA aqui.
4 discos
4 discos: Ace Frehley

Dizem por aí que muita gente só vai recordar de Gene Simmons e Paul Stanley, os chefões do Kiss, quando o assunto for negócios e empreendedorismo no rock – ao contrário das recordações musicais trazidas pelo nome de Ace Frehley, primeiro guitarrista do grupo, morto no dia 16 de outubro, aos 74 anos.
Maldade com os criadores de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, claro – mas quando Frehley deixou o grupo em 1982, muita coisa morreu no quarteto mascarado. Paul Daniel Frehley, nome verdadeiro do cara, podia não ser o melhor guitarrista do mundo – mas conseguia ser um dos campeões no mesmo jogo de nomes como Bill Nelson (Be Bop De Luxe), Brian May (Queen) e Mick Ronson (David Bowie). Ou seja: guitarra agressiva e melódica, solos mágicos e sonoridade quase voadora, tão própria do rock pesado quanto da era do glam rock.
Ace não foi apenas o melhor guitarrista da história do Kiss: levando em conta que o grupo de Gene e Paul sempre foi uma empresa muito bem sucedida, o “spaceman” (figura pela qual se tornou conhecido no grupo) sempre foi um funcionário bastante útil, que lutou para se sentir prestigiado em seu trabalho, e que abandonou a banda quando viu suas funções sendo cada vez mais congeladas lá dentro. Deixou pra trás um contrato milionário e levou adiante uma carreira ligada ao hard rock e a uma “onda metaleira” voltada para o começo do heavy metal, com peso obedecendo à melodia, e não o contrário.
Como fazia tempo que não rolava um 4 Discos aqui no Pop Fantasma, agora vai rolar: se for começar por quatro álbuns de Ace, comece por esses quatro.
Texto: Ricardo Schott – Foto: Reprodução
“KISS: ACE FREHLEY” (Casablanca, 1978). Brigas dentro do Kiss fizeram com que Gene, Paul, Ace e o baterista Peter Criss lançassem discos solo padronizados em 1978 – adaptando uma ideia que o trio folk Peter, Paul and Mary havia tido em 1971, quando saíram álbuns solo dos três cujas capas e logotipos faziam referência ao grupo. Ace lembra de ter ouvido uma oferta disfarçada de provocação numa reunião do Kiss, quando ficou definido que cada integrante lançaria um disco solo: “Eles disseram: ‘Ah, Ace, a propósito, se precisar de ajuda com o seu disco, não hesite em nos ligar ‘. No fundo, eu dizia: ‘Não preciso da ajuda deles’”, contou.
Além de dizer um “que se foda” para os patrões, Ace conseguiu fazer o melhor disco da série – um total encontro entre hard rock e glam rock, destacando a mágica de sua guitarra em ótimas faixas autorais como Ozone e What’s on your mind? (essa, uma espécie de versão punk do som do próprio Kiss) além do instrumental Fractured mirror. Foi também o único disco dos quatro a estourar um hit: a regravação de New York Groove, composta por Russ Ballard e gravada originalmente em 1971 pela banda glam britânica Hello. Acompanhando Frehley, entre outros, o futuro batera da banda do programa de David Letterman, Anton Fig, que se tornaria seu parceiro também em…
“FREHLEY’S COMET” (Atlantic/Megaforce, 1987). Seguindo a onda de bandas-com-dono-guitarrista (como Richie Blackmore’s Rainbow e Yngwie Malmsteen’s Rising Force), lá vinha Frehley com seu próprio projeto, co-produzido por ele, pelo lendário técnico de som Eddie Kramer (Jimi Hendrix, Beatles, Led Zeppelin) e Jon Zazula (saudoso fundador da Megaforce). Frehley vinha acompanhado por Fig (bateria), John Regan (baixo, backing vocal) e Tod Howarth (guitarras, backing vocal e voz solo em três faixas).
O resultado se localizou entre o metal, o hard rock e o rock das antigas: Frehley escreveu músicas com o experiente Chip Taylor (Rock soldiers), com o ex-colega de Kiss Eric Carr (Breakout) e com John Regan (o instrumental Fractured too). Howarth contribuiu com Something moved (uma das faixas cantadas pelo guitarrista). Russ Ballard, autor de New York groove, reaparece com Into the night, gravada originalmente pelo autor em 1984 em um disco solo. Típico disco pesado dos anos 1980 feito para escutar no volume máximo.
“TROUBLE WALKING” (Atlantic/Megaforce, 1989). Na prática, Trouble walking foi o segundo disco solo de Ace, já que os dois anteriores saíram com a nomenclatura Frehley’s Comet. A formação era quase a mesma do primeiro álbum da banda de Frehley – a diferença era a presença de Richie Scarlet na guitarra. O som era bem mais repleto de recordações sonoras ligadas ao Kiss do que os álbuns do Comet, em músicas como Shot full of rock, 2 young 2 die e a faixa-título – além da versão de Do ya, do The Move. Peter Criss, baterista da primeira formação do Kiss, participava fazendo backing vocals. Três integrantes do então iniciante Skid Row (Sebastian Bach, Dave Sabo, Rachel Bolan), também.
“10.000 VOLTS” (MNRK, 2024). Acabou sendo o último álbum da vida de Frehley: 10.000 volts trouxe o ex-guitarrista do Kiss atuando até como “diretor criativo” e designer da capa. Ace compôs e produziu tudo ao lado de Steve Brown (Trixter), tocou guitarra em todas as faixas – ao lado de músicos como David Julian e o próprio Brown – e convocou o velho brother Anton Fig para tocar bateria em três faixas. A tradicional faixa instrumental do final era a bela Stratosphere, e o spaceman posou ao lado de extraterrestres no clipe da ótima Walkin’ on the moon. Discão.
Cultura Pop
Urgente!: E não é que o Radiohead voltou mesmo?

Viralizações de Tik Tok são bem misteriosas e duvidosas. Diria, inclusive, que bem mais misteriosas do que as festas regadas a cocaína, prostitutas de Los Angeles e malas de dólares que embalavam os nada dourados tempos da payola (jabá) nos Estados Unidos. Mas o fato é que o Radiohead – que, você deve saber, acaba de anunciar a primeira turnê em sete anos – conseguiu há alguns dias seu primeiro sucesso no Billboard Hot 100 em mais de uma década por causa da plataforma de vídeos. Let down, faixa do mitológico disco Ok computer (1997), viralizou por lá, e chegou ao 91º lugar da parada
A canção, de uma tristeza abissal, já tinha “voltado” em 2022 ao aparecer no episódio final da primeira temporada da série The bear – mas como o Tik Tok é “a” plataforma hoje para um número bem grande de pessoas, esse foi o estouro definitivo. Como turnês de grandes proporções nunca são marcadas de uma hora pra outra, nada deve ter acontecido por acaso. E tá aí o grupo de Thom Yorke anunciando a nova tour, que até o momento só incluirá vinte shows em cinco cidades europeias (Madri, Bolonha, Londres, Copenhague e Berlim) em novembro e dezembro.
Ver essa foto no Instagram
O batera Phillip Selway reforçou que, por enquanto, são esses aí os shows marcados e pronto. “Mas quem sabe aonde tudo isso vai dar?”, diz o músico. Phillip revela também que a vontade de rever os fãs veio dos ensaios que a banda fez no ano passado – e que já haviam sido revelados em uma entrevista pelo baixista Colin Greenwood.
“Depois de uma pausa de sete anos, foi muito bom tocar as músicas novamente e nos reconectar com uma identidade musical que se arraigou profundamente em nós cinco. Também nos deu vontade de fazer alguns shows juntos, então esperamos que vocês possam comparecer a um dos próximos shows”, disse candidamente (esperamos é a palavra certa – a briga de faca pelos ingressos, que serão vendidos a partir do dia 12 para os fãs que se inscreverem no site radiohead.com entre sexta, dia 5, e domingo, dia 7, promete derramar litros de sangue).
Enfim, o que não falta por trás desse retorno aí são meandros, reentrâncias e cavidades. O Radiohead, por sua vez, investiu no lado “quando eu voltar não direi nada, mas haverá sinais”. Em 13 de março, dia do trigésimo aniversário do segundo disco da banda, The bends, o site Pitchfork noticiou que a banda havia montado uma empresa de responsabilidade limitada, chamada RHEUK25 LLP. – sinal de que provavelmente alguma novidade estava a caminho. Poucos dias depois, um leilão beneficente em Los Angeles sorteou quatro tíquetes para “um show do Radiohead a sua escolha”. Muita gente levou na brincadeira, mas algumas fontes confirmaram que o grupo tinha reservado datas em casa de shows da Europa.
Depois disso – você provavelmente viu – surgiram panfletos anunciando supostos shows do grupo em Londres, Copenhague, Berlim e Madri, ainda sem nada oficialmente confirmado, até que tudo virou “oficial”. Pouco antes disso, dia 13 de agosto, saiu um disco ao vivo do Radiohead, Hail to the thief – Live recordings 2003-2009 (resenhado pela gente aqui). Com isso, possivelmente, os fãs até esqueceram a antipatia que Thom Yorke causou em 2024, ao abandonar o palco na Austrália, quando foi perguntado por um fã sobre a guerra entre Israel e Palestina.
O site Stereogum não se fez de rogado e, quando a turnê ainda não estava oficialmente anunciada (mas havia sinais) chegou a perguntar num texto: “E aí, será que eles vão tocar Let down?”. No último show da banda, em 1º de agosto de 2018 (dado no Wells Fargo Center, Filadélfia), ela era a nona música, logo antes da hipnotizante Everything in its right place. Seja como for, já que bandas como Talking Heads e R.E.M. não parecem interessadas em retornos, a volta do Radiohead era o quentinho no coração que o mercado de shows, sempre interessado em turnês nostálgicas, andava precisando. Que vão ser vários showzaços e que muitas caixas de lenços serão usadas, ninguém duvida.
Texto: Ricardo Schott – Foto: Tom Sheehan/Divulgação
Cultura Pop
Urgente!: E agora sem o Ozzy?

Todo mundo que um dia se sentiu meio estranho e ouviu Ozzy Osbourne na hora certa, foi levado para um universo bem melhor, e para sempre. Tudo começou com uma banda, o Black Sabbath, que já era um verdadeiro errado que deu certo – um ET musical que fazia som pesado quando mal havia o termo “heavy metal” e que falava de terror na ressaca do sonho hippie. E prosseguiu com a lenda de um sujeito que gravou álbuns clássicos como Blizzard of Ozz (1980), Diary of a madman (1981) e No more tears (1991) – eram quase como filmes.
Ozzy pode ser definido como um cara de sorte – e também como um cara que abusou MUITO da sorte, mas pula essa parte. A depender daqueles progressivos anos 1970, não havia muito o que explicasse o futuro de Ozzy Osbourne na música. Em várias entrevistas, Ozzy já disse que não sabia tocar nenhum instrumento quando começou – na verdade nunca nem chegou a aprender a tocar nada. Tinha a seu favor uma baita voz (mesmo não ganhando reconhecimento algum da crítica por isso, Ozzy sempre foi um grande cantor), um baita carisma, ouvido musical e a disposição para encarnar o estranho e o inesperado no palco em todos os shows que fazia.
Imortalizada em livros como a autobiografia Eu sou Ozzy, a história de Ozzy Osbourne é um daqueles momentos em que a realidade pode ser mais desafiadora que a ficção. Afinal, quem poderia imaginar que um garoto da classe trabalhadora britânica se tornaria o que se tornou? Talvez tenha sido até por causa das dificuldades, que também moveram vários futuros rockstars ingleses da época – ou pelo fato de que o rock e a música pop do fim dos anos 1960 ainda eram quase mato, universos a serem desbravados, com poucos parâmetros. Seja como for, se hoje há artistas de rock que se dedicam a discos e a projetos que parecem ter saído da cabeça de algum roteirista bastante criativo, Ozzy teve muita culpa nisso.
Fora as vezes que o vi no palco, estive frente a frente com Ozzy apenas uma vez, numa coletiva de imprensa do Black Sabbath – da qual Tony Iommi não participou, por estar se recuperando de uma cirurgia (havia tido um câncer). Seja lá o que Ozzy pensasse da vida ou de si próprio, me chamou a atenção o clima de quase aconchego da sala de entrevistas (acho que era no hotel Fasano): um lugar pequeno, com ele e Geezer Butler (baixista) bem próximos dos repórteres. Que por sinal não eram inúmeros.
Já havia feito entrevistas internacionais antes mas nunca imaginei estar tão perto de uma lenda do rock que eu ouvia desde os doze anos. Fiz uma pergunta, ele respondeu, e eu, que sempre fiquei nervoso em entrevistas (imagina numa coletiva com o Black Sabbath!) voltei pra casa como se tivesse ido cobrir um buraco que apareceu numa rua no Centro. Não que não tenha me dedicado à pauta, mas era o Ozzy e eu estava… numa tranquilidade inimaginável.
Ozzy também já me deu uma entrevista por e-mail, em 2008, em que reafirmou sua adoração por Max Cavalera, disse que não tinha ideia se a série The Osbournes havia levado seu nome a um novo público, e reclamou da MTV, “que virou uma versão adulta da Nickelodeon”. Também disse que nunca diria nunca a seus então ex-companheiros do Black Sabbath (“nos falamos por telefone e quando as agendas permitem, nos encontramos”).
Nesse papo, Ozzy só se irritou quando fiz uma pergunta que envolvia o Iron Maiden, que tinha passado recentemente pelo Brasil, ou estaria vindo – não lembro mais. “Bom, não sei te responder, pergunta pro Iron Maiden!”, disse, em letras garrafais (todas as respostas foram em caixa alta). Lembro que ri sozinho e fui bater a matéria.
Até hoje só acredito que isso tudo aí aconteceu (e não é nada perto do que uns colegas viveram com Ozzy e o Black Sabbath) porque vi as matérias impressas. Mas acho que antes de tudo, consegui humanizar na minha mente um cara que eu ouvia desde criança. Ozzy era de carne e osso, respondia perguntas, tinha lá seus momentos de irritação e, enfim, mesmo tendo o fim que todo mundo vai ter, viveu bem mais do que muita gente. E mudou vidas.
Texto: Ricardo Schott – Foto: Divulgação

 Cultura Pop5 anos ago
Cultura Pop5 anos agoLendas urbanas históricas 8: Setealém

 Cultura Pop5 anos ago
Cultura Pop5 anos agoLendas urbanas históricas 2: Teletubbies

 Notícias8 anos ago
Notícias8 anos agoSaiba como foi a Feira da Foda, em Portugal

 Cinema8 anos ago
Cinema8 anos agoWill Reeve: o filho de Christopher Reeve é o super-herói de muita gente

 Videos8 anos ago
Videos8 anos agoUm médico tá ensinando como rejuvenescer dez anos

 Cultura Pop7 anos ago
Cultura Pop7 anos agoAquela vez em que Wagner Montes sofreu um acidente de triciclo e ganhou homenagem

 Cultura Pop9 anos ago
Cultura Pop9 anos agoBarra pesada: treze fatos sobre Sid Vicious

 Cultura Pop8 anos ago
Cultura Pop8 anos agoFórum da Ele Ela: afinal aquilo era verdade ou mentira?